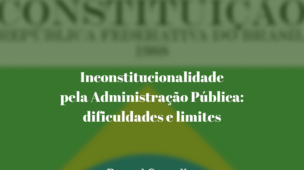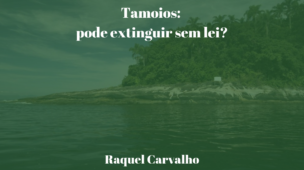Tempo de leitura: 91 minutos
Sumário
1. Considerações Preliminares
É antiga a discussão acerca dos limites das ações possíveis durante o inquérito policial no que tange à publicização da imagem do investigado, quando preso durante essa fase específica da persecução criminal. A esse respeito, cumpre elucidar que o inquérito policial formaliza a etapa investigatória em que se busca apurar a ocorrência de infrações penais, identificar a autoria, documentar a materialidade dos fatos ilícitos, trazendo à tona as causas, os motivos, os aspectos empíricos e os resultados do delito. O objetivo é fornecer ao Ministério Público elementos objetivos que permitam aferir a pertinência, ou não, de se promover a ação penal.
Nesse sentido, confira-se lição doutrinária:
“Inquérito policial, portanto, é o procedimento administrativo, preparatório ou preliminar da ação penal, conduzido por autoridade policial, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria pela autoridade policial (art. 4º, caput, Código de Processo Penal), para servir de base ao oferecimento da denúncia pelo órgão de acusação (Ministério Público) ou arquivamento do caso. Outras autoridades administrativas podem desempenhar função de investigação (art. 4º, parágrafo único, CPP).
O inquérito policial é o principal instrumento de investigação das polícias federal e civil, na função constitucional de investigar e apurar os crimes (art. 144, § 1º, I e §4º, Constituição Federal), atividade disciplinada nos arts. 4º a 23, do Código de Processo Penal. Em regra, o procedimento é escrito, público, inquisitório e unilateral. O sigilo e a participação da vítima e do indiciado são exceções.” [1]
Como toda atividade desenvolvida pelo Estado, por meio de agentes públicos sujeitos ao regime jurídico administrativo, as investigações criminais submetem-se às restrições constitucionais e da legislação em vigor. Destaca-se, pela relevância no caso em exame, o respeito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas físicas, a proteção aos presos quanto à sua integridade física e moral, bem como a exigência de publicidade incidente como regra sobre os atos administrativos, ressaltadas as hipóteses de sigilo previstas em lei e que se coadunem com os aspectos fáticos de cada realidade.
Serão levadas a efeito considerações sobre o princípio da publicidade e o direito à informação, bem como sobre os direitos fundamentais que delimitam a atuação de quem atua na investigação policial, de modo que se possa fixar a sua amplitude e a repercussão na hipótese em discussão.
2. A exigência de publicidade e o direito à informação. Conceitos vinculantes e caráter não absoluto.
No Brasil, saímos de cultura restritiva relativa à publicidade, compatível com um período de fechamento político existente à época da ditadura, para um novo paradigma de transparência que se construiu a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00 que exigiu publicidade de dados de orçamento e despesa), da Lei de Transparência (que estabeleceu a criação dos chamados “portais da transparência”, com regulamentação federal no Decreto nº 5.482/05), além de diplomas como a Lei de Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), a Lei de Processo Administrativo Estadual (Lei Estadual nº 14.184/02) a Lei do Habeas Data (Lei nº 9.507/97), a Lei dos Arquivos (Lei nº 8.150/91) e até mesmo Leis de Diretrizes Orçamentárias. Com a Lei Federal nº 12.527, de 18.11.2011, inseriu-se uma regulamentação unitária e sistemática no ordenamento pátrio fixando o amplo acesso a informações e documentos produzidos pela Administração.
A Lei Federal nº 12.527, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, reconhece a informação relativa à função administrativa como bem público que pertence aos cidadãos e não aos agentes que transitoriamente exercem funções na estrutura estatal.
Ao tratar da matéria, Leonardo Valles Bento assevera:
“Direito à informação pública significa, basicamente, o direito do cidadão de ter acesso a informações produzidas por ou que estejam sob custódia de, órgãos e entidades administrativas, bem como outras que atuam em seu nome. Parte da premissa de que o Poder Público não produz nem guarda informações em seu próprio interesse, mas sim no interesse da coletividade. Por conseguinte, toda informação sob controle estatal deve ser acessível por quaisquer cidadãos, a menos que exista uma justificativa superior de interesse público para que este acesso lhes seja negado.”[2]
A chamada “LAI” impõe a regra de que a informação é pública, sendo o sigilo exceção restrita aos casos enumerados na lei e por tempo determinado. Além das hipóteses de sigilo fixadas na própria Lei Federal nº 12.527/2012, mantem-se as demais hipóteses legais de sigilo, de segredo de justiça e de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. A doutrina vem advertindo que a Constituição e leis trazem informações que devem ser resguardadas como é o caso do sigilo das comunicações (art. 5º, XII, CR); o sigilo de dados (art. 5º, X e XII, CR); o sigilo da fonte (art. 5º, XIV, CR); sigilo das votações (art. 5º, XXXVIII, ‘b’; 14; 52, III, IV e XI; art. 55, § 2º; 66, § 4º; 119, I; 120, § 1º, I; e 130-A, §3º da CR); sigilo profissional (art. 154 do CP e art. 230 do CPM); o segredo particular (art. 153 do CP e art. 228 do CPM); o sigilo fiscal (art. 198 do CTN); o sigilo dos atos da ABIN (art. 9º, da Lei Federal nº 9.883/1999); o sigilo industrial (art. 195 da Lei nº Federal 9.279/1996); sigilo de operação ou serviço prestado por instituição financeira (Lei Complementar Federal nº 105/2001 e art. 18 da Lei Federal nº 7.492/1986); o sigilo da proposta apresentada em procedimento licitatório (art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993) (CONDEIXA, Fábio. Lei de Acesso à Informação: comentários. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3199, 4 abr. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/21436>. Acesso em 07.06.2016). Cumpre destacar, de modo específico, a previsão ao final do inciso XXXIII do artigo 5º da CR no sentido de que cabe o sigilo quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, além de hipóteses de segredo de justiça, como as que se embasam no interesse público ou intimidade em se tratando de atos processuais (artigo 5º, LX da CR/88), ao que se acrescem regras como a do artigo 20 do CPP: “A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.” Na seara criminal, não se vislumbram regras legais que objetivem ou tragam critérios indicativos da proteção cabível em relação à(s) vítima(s) e que possam restringir a publicidade, nem mesmo quanto ao(s) investigado(s) no que tange a eventual dano à imagem antes de evidenciada a culpabilidade com reconhecimento por decisão do Poder Judiciário.
Malgrado a não especificidade normativa no tratamento legal da matéria, os diplomas em vigor deixam claro que a publicidade e o direito à informação não são absolutos, sendo necessário ponderá-los em face de outras liberdades e garantias individuais. Também nesse sentido, a doutrina pontua:
“O direito de acesso à informação, como todo direito, não é absoluto. É um princípio que deve ser satisfeito na maior medida possível, mas que encontra limites em outros direitos e no respeito a interesses de igual dignidade. Estes estão relacionados, na maioria das vezes, com o direito à privacidade e a proteção da segurança coletiva. Encontrar um equilíbrio entre a transparência, a privacidade e a segurança da informação é, de longe, a tarefa mais complexa de um regime de acesso.
A Lei 12.527/11 disciplina dois tipos de informações que terão seu acesso restrito: (1) as informações sigilosas, cujo segredo é essencial para a segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 5º, XXXIIII, parte final, da Constituição da República; e (2) as informações pessoais, protegidas em razão do direito dos indivíduos à intimidade e à privacidade, assegurados pelo art. 5º, X, também da Constituição.”[3]
A própria Lei de Acesso à Informação determina, no inciso III do artigo 4º, como informação sigilosa “aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”, sendo induvidoso a razoabilidade de exceção à publicidade em determinadas situações. Ademais, não há dúvida que a Constituição da República consagra a presunção constitucional de inocência (artigo 5º, LVII) e a garantia da integridade física e moral dos presos (artigo 5º, XLIV), sendo que a Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84) assim determina:
“Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.
Art. 41 – Constituem direitos do preso: (…)
VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo”
A proteção em face do sensacionalismo é um limite a ser observado quando do exercício do direito fundamental à liberdade de expressão consagrado na CR e com amplitude de repercussão crescente pela revolução tecnológica que disponibiliza plataformas as mais diferentes para comunicar ideias, imagens, pensamentos e informações as mais diversas. Cabe frisar que a internet passou uma multiplicidade de recursos às mãos dos cidadãos conectados em menos de duas décadas (em 1990 computadores não eram comercializados no Brasil), período insuficiente para a sociedade absorver as possíveis repercussões de uma mudança tão significativa. Não se refletiu, antes da explosão do “acesso por um clique”, as consequências, os riscos, as vantagens e os problemas de uma exposição “de tudo por todos”. Sem esse conhecimento, tornou-se mais difícil amadurecer comportamentos responsáveis e consequentes, fruto do bom senso; a sanha da exposição generalizada solidificou-se e se ampliou, chegando a espaços além dos jornais e da televisão. Observar limites como a proteção da intimidade e da imagem nesse novo momento digital da sociedade é indispensável quando cresce a demanda por exposições que tenham um apelo emocional forte, não raras vezes de forma superficial, célere e irresponsável, o que atende rapidamente objetivos comerciais (das empresas e conglomerados que divulgam notícias com intuito lucrativo) e a ânsia de consumo (pela audiência curiosa), embora comprometa a possibilidade de se alcançar um equilíbrio mínimo entre os valores em conflito.
Em se tratando de inquérito policial, há de se ter especial cautela ao definir os limites da publicidade, da liberdade de expressão e do acesso à informação, tendo em vista não haver juízo probatório definitivo pela própria natureza do mesmo. Conforme já se elucidou, o inquérito formaliza as investigações iniciais, que buscam coletar os primeiros dados e elementos do delito, sendo manifesta seu caráter inquisitório. A fragilidade desse contexto inicial indica, para alguns, a conveniência do sigilo, sob pena até de se causar dificuldade em obter novas informações, sem falar no risco de impor prejuízos aos investigados antes de se ter a necessária segurança jurídica quanto à autoria e materialidade do delito. Também não se pode ignorar os riscos de, sem provas definitivas, vincular alguém a um crime, atingindo já nesse momento a possibilidade de uma imagem de inocência perante a comunidade. Daí alguns autores invocarem a presunção de inocência e a proibição de qualquer forma de sensacionalismo em relação ao preso como direitos fundamentais a serem considerados na espécie. Em posição diversa e sob outro prisma, invoca-se o direito de os cidadãos conhecerem informações relativas a ilícitos apurados pelas autoridades policiais, não podendo se afastar a publicidade, nem comprometer a transparência mínima na espécie.
Além da curiosidade inerente a boa parte dos seres humanos quanto a quaisquer informações da vida social, inclusive as relativas a fatos criminosos sob apuração, e muito além do constitucional direito à informação embasado na publicidade, é certo que nas últimas décadas o maior acesso à tecnologia viabilizou um acirramento da necessidade de se alcançar e de se conhecer as circunstâncias, delituosas ou não, que acontecem no convívio em sociedade. Com a internet, a divulgação veloz de fatos cujos contornos muitas vezes sequer se conhece formou um público ávido por consumir nas informações, rostos e escândalos, independentemente da precariedade ou solidez dos elementos coletados. Sobre os cuidados que a nova realidade requer, a doutrina já pontua:
“Naturalmente, o desenvolvimento cada vez mais intenso das tecnologias de informação e de comunicação despertam justa preocupação quanto ao controle na coleta, no armazenamento e na utilização de informações pessoais por governos, e na ameaça que a ausência de um tal controle pode representar para as liberdades individuais e, no limite, para a própria democracia.”[4]
Diante desse panorama, sublinha-se que, de um lado, temos a liberdade de expressão, o dever de informar e de assegurar a publicidade, essenciais a um Estado Democrático de Direito. Sob outro prisma, há a proteção à imagem e à honra, o dever de não comprometer as investigações, a presunção de inocência, a proteção constitucional aos presos, bem como o respeito à dignidade humana. Considerando a tensão presente entre essas normas, incumbe analisar os direitos fundamentais em conflito, desde a sua caracterização à sua amplitude.
3. Direitos fundamentais
Embora a doutrina não tenha posição uníssona, nem minimamente convergente, a propósito da nomenclatura e do conceito “direitos fundamentais”, é certo que a Constituição da República de 1988 utiliza essa expressão em seu Título II (Direitos e Garantias Fundamentais). No presente trabalho, considera-se direitos fundamentais aqueles básicos para a existência do ser humano, consagrados na ordem jurídica, sendo que, no caso dos direitos fundamentais em exame, se os tem previstos de modo expresso no próprio texto da Constituição.
Confira-se a seguinte lição da doutrina comparada sobre essa noção:
“Os direitos fundamentais, quer os direitos, liberdades e garantias, quer os direitos económicos, sociais e culturais, constituem ‘compromissos fundamentais’ dos cidadãos expressos ex ‘decisões políticas fundamentais’ na Constituição, que não é apenas a constituição do Estado, mas a constituição do Estado e da Sociedade, numa palavra, a ‘ordem fundamental’ de uma ‘comunidade política’ ‘bem ordenada’.”[5]
A ideia é que os direitos fundamentais operam por meio de um sistema jurídico “criado” e não apenas “dado” pela natureza das coisas, de que é sujeito, em último termo, o “povo”, titular da soberania (esta não dependente de conceitos jurídicos indeterminados ou noções de conteúdo variável, direitos negativos ou direitos positivos). Daí porque os direitos fundamentais “constituem ‘compromissos constitutivos’ (constitutive commitments) dos cidadãos expressos em ‘decisões políticas fundamentais’ na Constituição, que não é apenas a Constituição do Estado, mas a Constituição do Estado e da Sociedade, numa palavra, a ‘ordem fundamental’ de uma ‘comunidade jurídica’ ‘bem ordenada’.” [6]
No Brasil, estudos recentes têm utilizado a expressão direitos fundamentais como direitos do homem garantidos juridicamente na ordem positiva de determinado Estado. O juiz de direito Alexandre Guimarães Gavião Pinto, em artigo doutrinário, assim escreveu:
“Constituem os direitos fundamentais legítimas prerrogativas que, em um dado momento histórico, concretizam as exigências de liberdade, igualdade e dignidade dos seres humanos, assegurando ao homem uma digna convivência, livre e isonômica.
(…) Tais direitos consubstanciam limitações impostas pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado, sendo encarados como o inevitável resultado de diversos eventos históricos e ideologias marcadas, de forma indelével, pelos primados da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, cujas ideias foram sendo inspiradas tradicionalmente nos movimentos que se voltaram a reforma do Estado e a formação do Estado Democrático de Direito.” [7]
Posicionamentos nesse sentido embasam-se em lições de Canotilho (Direito constitucional e teoria da constituição), Paulo Bonavides (Curso de direito constitucional), Antonio Enrique Pérez Luño (Derechos humanos, Estado de Derecho y constitución) e Robert Alexy (Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito democrático). Confira-se o magistério da Procuradora do Estado e jurista Luísa Cristina Pinto e Netto que aduz: “Por certo, há direitos fundamentais que não figuram no texto constitucional, o que não é bastante para lhes retirar a fundamentalidade material. Não obstante, em sistemas de Constituição analítica, em que se fez clara opção por um detalhamento constitucional do rol de direitos fundamentais, a retirada de um direito deste rol e sua eventual manutenção apenas ao nível infraconstitucional inequivocamente debilita sua garantia jurídico-positiva.”[8]
Canotilho já elucidava que “O sistema jurídico positivo de direitos fundamentais encobre uma estrutura complexa de normas” e, considerando essa estrutura, é possível deparar-se com uma relação de tensão entre duas dimensões – direito do indivíduo e pessoa como unidade interativa inserida em formações sociais – ambas protegidas por normas constitucionais e enquadráveis na noção de direitos fundamentais:
“Esta relação de tensão é, de resto, compatível com a natureza principial dos direitos fundamentais, o quer permitirá ‘juízos de ponderação’ (Abwägung) entre os direitos em conflito, a aplicação dos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, e, em casos extremos, uma ponderação conducente a soluções diferentes das que resultariam da simples aplicação do princípio da concordância prática (cfr. Supra, Parte II, Cap. 3.º), tendo em conta as condições fácticas e jurídicas existentes no caso concreto.”[9]
Ao analisar os efeitos de direitos fundamentais em determinado ordenamento, o mestre português destaca a aplicabilidade direta das normas que os reconhecem, consagram ou garantem, explicitando que as mesmas vinculam entidades públicas e privadas, inclusive o legislador e o administrador público quando ato vinculada ou discricionariamente:
“Da mesma forma, quando a administração pratica actos no exercício de um poder discricionário, ela está obrigada a actuar em conformidade com os direitos, liberdades e garantias. Aqui, dada a frouxa pré-determinação da lei, estes direitos surgem como parâmetros imediatos de vinculação do poder discricionário da administração.”[10]
Não é outro o ensinamento dos doutrinadores pátrios:
“Os direitos fundamentais são aplicados de maneira reflexa, tanto em uma dimensão proibitiva e voltada para o legislador, que não poderá editar lei que viole direitos fundamentais, como, ainda, positiva, voltada para que o legislador implemente os direitos fundamentais, ponderando quais devam aplicar-se às relações privadas (…)
Podemos afirmar que importante consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a sua ‘eficácia irradiante’ (Daniel Sarmento), seja para o Legislativo ao elaborar a lei, seja para a Administração Pública ao ‘governar’, seja par o Judiciário ao resolver eventuais conflitos”.[11]
Nessa perspectiva, os direitos fundamentais, entendidos como princípios, produzem os seus efeitos em toda a ordem jurídica. “Quer dizer, são dotados de uma ‘eficácia expansiva’, uma eficácia que inclui todos os âmbitos jurídicos. Essa vis expansiva” dos direitos fundamentais conduz à apreciação da respectiva eficácia horizontal face a terceiros, isto é, perante a esfera jurídica privada.”[12]
Há mesmo quem, divergindo da posição defendida por Canotilho, sustente estar-se diante de uma nova ‘Era dos Deveres Fundamentais’ (no Brasil, Carlos Rátis, dentre outros), donde extraem o “dever de efetivação dos direitos fundamentais” (necessidade de atuação positiva do Estado); “deveres específicos do Estado diante dos indivíduos” (por atuação e dever das autoridades estatais) e “deveres implícitos” (visto que afirmam existir tantos deveres implícitos quantos direitos explicitamente declarados). A ideia, como conclui Pedro Lenza, é no sentido de que “o direito de uma pessoa pressupõe o dever de todas as demais (quando se aceita a tese do efeito horizontal direto) e, sobretudo, das autoridades do Estado.” [13]
Nessa perspectiva, o texto constitucional abriga não apenas o direito fundamental, mas também um dever fundamental: “A idéia de dever fundamental aponta para a admissão de uma categoria jurídica constitucional autônoma”. Seriam dois fundamentos precípuos dos “deveres fundamentais”, segundo José Casalta Nabais: 1) deveres fundamentais seriam expressão da soberania de um Estado assente na primazia da pessoa humana (Estado e soberania têm como base a dignidade da pessoa humana); 2) fundamento constitucional (impede sejam reconhecidos se não expressamente estabelecidos na Constituição, o que não afasta a imposição de deveres pelo legislador ordinário).[14]
A despeito das inúmeras e significativas controvérsias doutrinárias sobre o tema, é certo que os direitos à imagem, à presunção de inocência, à liberdade de expressão, à publicidade e de ser informado consubstanciam direitos fundamentais previstos no ordenamento brasileiro com status constitucional, sendo clara ainda a eficácia deles resultante que obriga qualquer agente público, mesmo nas situações em que haja tensão quando da sua incidência no caso concreto. Caberá à autoridade competente, fazer o juízo hermenêutico cabível e, motivadamente, aferir qual prestação positiva deverá realizar, bem como qual comportamento negativo lhe é vedado, sendo esses deveres dos quais os agentes públicos não poderão se descurar.
Já se reconhece que num sistema constitucional pluralista, as normas consagradoras dos direitos fundamentais sociais devem configurar-se como normas abertas de modo a possibilitar diversas concretizações, sendo essa a lição de Alexy[15]. A dificuldade dessa tarefa é induvidosa, havendo quem impute a ela o fato de os direitos fundamentais estarem em crise:
“A crise dos direitos fundamentais não é apenas uma crise de eficácia e efetividade, mas uma crise quanto ao próprio reconhecimento e à identidade dos direitos fundamentais.”[16]
De fato, para que os direitos fundamentais tenham sua efetividade assegurada, é preciso que haja agentes públicos preparados para a sua normatização, bem como para sua aplicação em realidades nas quais direitos fundamentais diversos entrem em confronto. Parte da doutrina reconhece que, embora a Constituição tenha sido generosa em termos de direitos, creditar-se à constitucionalização dos direitos a capacidade de concretizá-los decorre de certa ingenuidade:
“A constitucionalização de um direito é apenas o primeiro passo na luta para que seja implementado; para que os direitos se tornem fato, também é necessário que a sociedade esteja disposta a assumir as responsabilidades por viabilizá-los, admitindo que a cada direito corresponde uma obrigação.”[17]
Esse é o desafio que se coloca no presente caso: assegurar a força normativa de direitos fundamentais juridicizados no próprio texto constitucional e que exigem dos intérpretes esforço para que sejam tutelados, conformados e definida a sua incidência adequadamente, malgrado a tensão existente entre os mesmos quando da sua aplicação em realidades específicas de prisão de investigados durante a fase preliminar da elaboração do inquérito policial.
4. Tensão e colisão entre direitos fundamentais: ponderação e proporcionalidade
Para aqueles que qualificam a sociedade contemporânea como pós-moderna, um dos seus aspectos caracterizadores é o fim da unidade e da homogeneidade da concepção como resposta às questões postas no plano social, estatal e individual. E, malgrado toda a controvérsia doutrinária sobre o tema da pós-modernidade, certo é que nem a consagração expressa dos direitos fundamentais na Constituição, nem as regras legais editadas pelos entes federativos, nem a Administração Pública lograram êxito na tarefa de produzir uma única solução capaz de satisfazer o universo de multiplicidade de demandas e de confrontos com especificidades diversas em cada realidade. Contrariando a homogeneização preconizada pelo movimento de globalização, identifica-se a multiplicidade até mesmo como decorrência natural da atual e complexa estrutura social e do Estado. O embate pluralístico de interesses antagônicos e o confronto entre direitos fundamentais em várias situações concretas torna evidente a tensão entre diversos bens jurídicos, sendo inevitável admitir como falsa a pretensão de coerência e completude. As contingências de diversas naturezas impõem variações, de forma que a mutabilidade daí decorrente evidencia a inviabilidade da concreção de respostas únicas, certas e absolutas, sempre pré-definidas numa norma ou em decisão política abstrata e isolada.
Eventual unidade harmônica deve ser construída em cada situação concreta, mediante a compreensão do ordenamento como um todo, incluídos aí os direitos fundamentais em sua máxima relevância, diante das especificidades da realidade em questão. Esta tarefa, a ser exercida na plural sociedade contemporânea e nas diversas esferas do Estado, requer significativo respeito à singularidade fática e normativa. A deferência à singularidade em um mundo plural, com peculiaridades empíricas as mais diversas possíveis, é o único caminho possível se se deseja um mínimo de estabilidade no sistema jurídico. O respeito aos aspectos fáticos com todas as especificidades de cada situação completa o desafio a ser vencido pelos agentes públicos e privados.
Daí por que se considera superado o pensamento racionalista de que o ordenamento se oferece pronto ao aplicador da norma, a quem caberia somente, por meio de um ato de intelectivo e de conhecimento, apreender o conteúdo das determinações relativas aos direitos fundamentais, aplicando-as “in concreto”, mediante a técnica da “subsunção”. Ao contrário, entende-se que o sistema exige do jurista e dos seus aplicadores uma atividade de integração das normas diante da realidade em questão, de acordo com os valores sociais imanentes a uma dada comunidade em determinada época, com atenção às especificidades de cada situação nas quais incidam. Isto, considerando que os direitos podem se entrecruzar, colidir ou se relacionar das mais diversas formas possíveis.
Sobre a colisão entre direitos fundamentais, Canotilho escreve:
“De um modo geral, considera-se existir uma colisão de direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. Aqui não estamos perante um cruzamento ou acumulação de direitos (como na concorrência de direitos), mas perante um ‘choque’, um autêntico conflito de direitos.
A colisão ou conflito de direitos fundamentais encerra, por vezes, realidades diversas nem sempre diferenciadas com clareza.”[18]
Diante desse contexto, o autor português destaca a necessidade de as regras do direito constitucional de conflitos construírem-se com base na harmonização de direitos, no caso de isso ser necessário, na prevalência de um direito ou bem em relação ao outro. Outrossim, admite que eventual relação de prevalência pode apenas se dar em face de circunstâncias concretas, quando é legítimo dizer que um direito tem mais peso do que o outro (ou seja, prefere ao outro, em face das circunstâncias do caso). Assim sendo, esclarece que o juízo de ponderação e valoração de prevalência podem efetuar-se a nível legislativo ou apenas no momento da elaboração de uma norma de decisão para o caso concreto.[19]
Também os constitucionalistas brasileiros defendem que, na hipótese de colisão de direitos fundamentais, tem-se como cabível a ponderação de interesses à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização.[20]
A doutrina invoca a razoabilidade e a proporcionalidade como parâmetro por meio de que é possível definir a efetivação máxima dos direitos fundamentais, no caso de conflito entre os mesmos. A ideia é proteger, na maior amplitude possível, o conteúdo ou núcleo essencial dos direitos fundamentais em questão, evitando, dentro dos limites da possibilidade concreta, que os mesmos tenham sua vigência recusada de modo integral.
Afinal, também os direitos fundamentais sujeitam-se a uma dimensão de peso que, em determinada realidade, pode levar a que um não exclua o outro, mas que sejam combinados, buscando-se a harmonização cabível diante das especificidades concretas. E eventual restrição do conteúdo de um deles que se mostre pertinente naquela incidência específica, não significa que o mesmo está expurgado do sistema. À obviedade, todos os direitos fundamentais consagrados explícita ou implicitamente no texto constitucional são válidos, com idêntica força coercitiva. Em regra, serão aplicados contemporaneamente, sem confronto. Se a sua incidência simultânea em um caso concreto implicar tensão, cumpre ponderá-los para aferir a possibilidade de aplicá-los e para definir a força coercitiva que um ou todos eles manterão diante daquelas circunstâncias fáticas. O prevalecimento de um direito fundamental em uma dada situação deve levar em conta a realidade sobre a qual incide e um exame teórico em que sejam contrabalançados os valores jurídicos em questão. Tal atividade jamais pode importar prevalência absoluta, geral e “a priori” de um deles, nem mesmo negativa genérica dos demais. A interpretação isolada de um único princípio ignora a complementariedade característica do sistema jurídico contemporâneo. Tratase de elementos integrantes de um sistema cuja validade deve ser assegurada, de modo integrado, como condição de sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, o direito à imagem e à presunção de inocência, a liberdade de expressão e a intimidade, a publicidade e o acesso à informação são todos manifestações do Estado Democrático de Direito, tendo o mesmo valor e hierarquia. Podem ser realizáveis integralmente em dada situação e não o serem simultaneamente em outro, exigindo aplicação em diferentes graus, mediante a técnica da ponderação que indique qual deles terá peso maior no caso concreto.
Humberto Ávila observa que alguns deles podem ser dependentes (segurança jurídica e Estado de Direito), excludentes (liberdade de informações e proteção da esfera privada), limitadores parciais da realização dos demais ou indiferentes à instituição do fim estipulado pelo outro[21]. Diante de qualquer divergência, não basta apenas o reconhecimento da minoria, mas se torna imprescindível buscar a melhor convivência plural entre as diferentes iniciativas, teorias, projetos ou direitos, forjando, nas palavras de Juarez Freitas, “uma totalidade dialética (em acepção nobre e forte do termo), aberta e valorativa do ordenamento democrático”[22]. Desmistificase a força da unicidade abstrata e apriorística e o próprio Direito vê questionada a própria onipotência abstrata, com valorização da aqueles que aplicam a Constituição, as leis e as normas regulatórias da Administração, todos centros produtores de normas vinculantes em última instância.
Na hipótese de se discutir a publicidade no inquérito policial e o direito à imagem de preso na fase das investigações preliminares, conclui-se pela impossibilidade de se identificar uma solução consensual e única em que não haja sacrifício de parcela normativa conforme o adequado a cada caso concreto. A solução pertinente depende do juízo de adequabilidade apto a evidenciar qual norma principiológica seria apropriada à realidade em tese, sendo imprescindível o exame das peculiaridades do ilícito penal que se apura, das consequências benéficas e prejudiciais da divulgação da imagem do preso e das demais especificidades da persecução penal em andamento.
Deve-se buscar, no exercício desta tarefa, a solução que implique menor restrição aos direitos fundamentais em confronto. O entendimento que prevalece, conforme ensina Luís Roberto Barroso, é o de que a lei não pode impor solução rígida e abstrata para esta colisão, assim como para quaisquer outras, donde conclui que “uma norma pode ser constitucional em tese e inconstitucional em concreto, à vista das circunstâncias de fato sobre as quais deverá incidir”.[23] Neste contexto é que se desenvolveram técnicas capazes de trabalhar multidirecionalmente, destacando-se a denominada técnica da ponderação, cuja formulação inicial tem sido atribuída a Dworkin no final da década de 60: “A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas.”[24]
No mundo contemporâneo do século XXI a ciência jurídica abdicou da ilusão de o direito ser um sistema pleno, lógico e integrado por normas que sempre se afiguram coerentes e aprioristicamente harmônicas diante de cada realidade, inclusive no tocante aos direitos fundamentais. Reconhece-se que a complexidade das demandas e dos mecanismos necessários ao próprio Estado para realizar o bem comum exige atentar à peculiaridade do caso concreto. Como assevera Jacques Derrida, “Cada caso é um caso, cada decisão é diferente e requer uma interpretação absolutamente única”, sendo impossível que esta seja sempre garantida por uma regra codificada. Se tal ocorresse, o juiz seria “uma máquina de calcular; o que às vezes acontece, o que acontece sempre em parte, segundo uma parasitagem irredutível pela mecânica ou pela técnica que introduz a iterabilidade necessária dos julgamentos; mas, nessa medida, não se dirá do juiz que ele é puramente justo, livre e responsável”.[25]
Em situações complexas como a ora em exame, que a doutrina convencionou chamar de “hard cases”, pode se mostrar necessário, inclusive, ponderar alguns dos direitos fundamentais que estejam em tensão, porquanto a simultaneidade da sua incidência não conduziria à solução do problema posto ao Poder Público. Eventual restrição da força coercitiva de um deles, em virtude das especificidades concretas de um certo contexto, não significa que o direito fundamental deixou de ser válido no sistema, não sendo cabível falar em derrogação. Cogita-se, hodiernamente, da possibilidade de uma norma válida ao consagrar um direito, que continue a integrar o ordenamento, não incidir em um caso específico, após realizado o juízo de ponderação naquela realidade.
A doutrinadora Ana Paula de Barcellos, ao tratar da ponderação, afirma que a técnica fornecer ao intérprete poderes extraordinários, já que ele é capaz de afastar a aplicação de dispositivos válidos em benefício da aplicação de outros, restringir o exercício de direitos fundamentais e até mesmo relativizar normas constitucionais:
“Não se trata, portanto, de uma ponderação qualquer, na qual vantagens e desvantagens são livremente avaliadas. Em sentido diverso, trata-se de uma ponderação cuja matéria-prima principal são disposições normativas válidas e em vigor e isso a torna extremamente particular. Na verdade, há aqui um ponto interessante. Embora o direito sempre tenha convivido com a questão das antinomias, nunca se falou tanto de colisões normativas e necessidade de ponderação como nas últimas décadas.”[26]
Atente-se para o fato de que a ponderação entre direitos fundamentais não consiste em atividade matemática ou exata. Impõe-se cautela quando da análise de situações concretas em que direitos fundamentais igualmente válidos colidem entre si, sob pena de, ausente um mínimo de objetividade, parâmetros subjetivos arbitrários orientarem o processo hermenêutico. Surge, neste contexto, a proporcionalidade como um critério capaz de orientar a definição pelo direito fundamental ao qual será assegurada precedência no caso concreto, diante das normas vigentes em face do conflito em questão. Isto se dá, obviamente, em razão da complexidade de determinada situação, que abrange uma variedade de bens jurídicos os quais exigem um balanceamento entre os diversos direitos fundamentais existentes. Nestas conjunturas complexas, denominadas por parte da doutrina como “hard cases”, a solução correta, à luz do Direito, surgiria da técnica da ponderação, a qual viabilizaria o balanceamento entre direitos fundamentais.
Diante de tais ponderações, entende-se pertinente definir a ponderação (também chamada, por influência da doutrina norte-americana, de balancing) “como a técnica jurídica de solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas em tensão, insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais”, como o faz Ana Paula de Barcellos[27].
No processo de emprego da técnica de ponderação para a hipótese de tensão entre direitos fundamentais, certo é que os juízos a serem realizados orientar-se-ão pela proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade assume, em relação à técnica da ponderação, a função auxiliar de identificar, em dada situação empírica, qual direito fundamental consagrado na CR consubstancia o meio adequado, necessário e proporcional para realizar o fim legítimo na espécie. Trata-se, assim, de um instrumento jurídico para elucidação de conflitos, porquanto guia potencial da atividade interpretativa necessária à acomodação de direitos fundamentais em tensão, a serem redimensionados em cada realidade.
Na mesma esteira, tenha-se o entendimento de Willis Santiago Guerra Filho ao afirmar que o princípio da proporcionalidade destina-se à preservação dos direitos fundamentais na ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, o que lhe assegura o status de princípio dos princípios, ou seja de verdadeiro principium ordenador do direito:
“O ‘princípio da proporcionalidade em sentido estrito’ determina que se estabeleça uma correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição normativa e o meio empregado, a qual deve ser juridicamente a melhor possível. Isso significa, acima de tudo, que não se fira o ‘conteúdo essencial’ (Wessenssgehalt) de direito fundamental, com o desrespeito intolerável do valor/princípio que o define: a dignidade humana. Significa pelo estado de colisão potencial em que se encontram, vão implicar o princípio da proporcionalidade. Essa aplicação, porém, vai requerer um conflito atual entre princípios, para que se configure a hipótese ‘fático-normativa’ prevista no princípio da proporcionalidade.”[28]
Cogita-se, aqui, não da proporcionalidade como uma técnica que viabiliza a ponderação de interesses jurídicos em situação de tensão. Nos casos difíceis, passa a ser instrumento de auxílio hermenêutico para identificar os direitos fundamentais terão prevalência. O princípio da proporcionalidade, assim, funciona como um princípio de interpretação, auxiliando o intérprete na tomada de decisões. Como ensina Gustavo Ferreira Santos, “Trata-se de importante critério argumentativo. A sua importância instrumental é evidente por ser chamado ele a apoiar a superação de conflitos entre direitos, bens e interesses constitucionalmente protegidos quando da efetiva atuação estatal. Há que existir dúvida sobre a medida da aplicação, o que leva o intérprete/aplicador a buscar, na proporcionalidade, o apoio que precisa para solucionar o conflito”. O autor conclui que se utiliza a proporcionalidade na interpretação do sistema como um todo, o que torna possível concluir que tal ou qual direito consagrado na Constituição teve seu conteúdo violado[29].
Faz sentido que a proporcionalidade oriente o cotejo dos direitos fundamentais, buscando-se, sempre que possível, que um direito fundamental não suprima inteiramente outro na eventual colisão de exercícios e que se tenha o menor sacrifício possível dos núcleos dos direitos em questão. Como pontua Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “A razão está em que os princípios nunca se eliminam, diferentemente do que sucede com as regras antinômicas e, ainda assim, por preponderância principiológica. O agente público, dito de outro modo, está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos fundamentais”.[30]
Na tentativa de evitar arbitrariedades, a doutrina vem indicando critérios a serem observados quando da checagem da constitucionalidade de restrições aos direitos fundamentais, quando os mesmos entram em conflito com outros direitos também fundamentais. Entende Jairo Gilberto Shäfer que temos sempre três aspectos em análise: a) um direito que é objeto de restrição; b) um direito que é objeto de proteção; c) o meio que se usa para restringir um direito em benefício de outro. Nesse contexto, a restrição a um direito deve ser proporcional, isto é: a) o direito restringido só deve sê-lo se isso servir a alcançar o bem que se quer atingir (adequação); b) o direito restringido deve ser limitado com o meio menos gravoso possível (necessidade); c) o direito restringido deve ser limitado apenas na medida em que isso.[31] Da referida técnica resulta um paradigma em que não se restringe qualquer direito fundamental além do necessário, conforme especificidades do caso concreto.
Afirmou o Ministro Gilmar Mendes ao julgar o HC n° 82.424-2 (relator para acórdão Min. Maurício Corrêa), em que se discutiu a tensão entre a liberdade de expressão e o princípio da dignidade da pessoa humana, que o princípio da proporcionalidade constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um limite do limite ou uma proibição de excesso na restrição de tais direitos. Esta proibição de excesso coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo. Mas, além desta vinculação aos direitos fundamentais, a proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios constitucionais, como técnica de solução de conflito: “Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade.” Elucida Gilmar Mendes que o que há de se perquirir, na aplicação da proporcionalidade, é se, em face do conflito entre dois bens constitucionais em tensão, o ato afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um direito fundamental e o grau de realização do direito fundamental contraposto)[32].
Afasta-se a possibilidade de se falar entre hierarquia entre os direitos fundamentais e se exige que o operador do direito fundamente sua decisão em fatos verdadeiros e em normas integrantes do ordenamento. Ao buscar a composição harmoniosa de um conflito de interesses em determinada situação na qual haja direitos fundamentais em tensão, pode-se chegar a uma solução diversa daquela indicada em contexto semelhante, mas não idêntico do ponto de vista jurídico ou fático. A própria inexistência de critérios formais para que seja selecionado o direito fundamental a prevalecer diante de um conflito evidencia a impossibilidade de se afirmar, de modo absoluto e prévio, a solução normativa preponderante em qualquer hipótese.
Embora afirme, de modo reiterado, que direitos fundamentais são, por sua natureza intangíveis, ou seja, devem ter sempre o seu núcleo duro preservado em qualquer processo de ponderação, certo é que a doutrina tem excluído seu caráter absoluto. Paulo Gustavo Gonet Branco reconheceu que “os direitos fundamentais podem ser objeto de limitações, não sendo, pois, absolutos”, porquanto até mesmo “o elementar direito à vida tem limitação explícita no inciso XLVII, a, do art. 5º, em que se contempla a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada”[33] O STF tem afastado o caráter absoluto dos direitos fundamentais, quando diante de razões de relevante interesse coletivo ou de exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades que legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas:
“OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa – permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.”[34]
O Ministro Cezar Peluzo, ao decidir o MS n° 23.832-DF, advertiu que “direito à publicidade, assim como qualquer direito, inclusive o direito à vida, não é absoluto. Não há direitos absolutos no ordenamento e na ordem jurídica, e sua restrição não pode, portanto, configurar ultraje a direito à informação, muito menos censura prévia”.[35] Embora não conhecendo de Recurso Especial, por entender que a discussão relativa à razoabilidade e proporcionalidade de ato normativo federal consubstancia matéria constitucional, o STJ transcreveu o voto condutor do acórdão do Tribunal de segundo grau de jurisdição em se se reconhecera o caráter não absoluto dos princípios constitucionais e a importância da proporcionalidade em situações de tensão:
“A interferência na liberdade de comércio é uma decorrência necessária desse dever do Estado. Não se cuida, neste momento, do tema da razoabilidade do ato administrativo, mas apenas de se afirmar a não ofensa ao princípio da legalidade. Superada essa questão, adentro ao tema da razoabilidade do ato administrativo. A ordem econômica no Brasil tem por fim assegurar a todos existência digna. Seus fundamentos são o trabalho humano e a livre iniciativa. A sua compreensão deve ser feita à luz, dentre outros, dos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor. Não existe, porém, caráter absoluto na aplicação desses princípios. Eles têm caráter relativo e sua incidência, em um caso concreto, deve ser sopesada à luz de todo o ordenamento jurídico. (…) diante do risco à saúde pública, o Estado tem o dever de regulamentar essa atividade. E, por envolver restrição a princípios fundamentais da ordem econômica e da ordem social, tem o Estado o dever de fundamentar essa intervenção. Trata-se do exercício do poder de polícia.
(…)
Portanto, a análise da legitimidade do ato administrativo, deve ser feita sob o prisma da razoabilidade, ou seja, do sopesamento da proporcionalidade e da adequação da medida para os fins pretendidos”.[36]
O que os Tribunais têm realizado é estabelecer uma relação de precedência condicionada entre direitos fundamentais, conforme doutrina de Alexy ao tratar dos princípios veiculadores de direitos. A determinação desta relação implica, diante de condições específicas ao caso concreto, reconhecer que um direito fundamental precede a outro, sendo cabível que haja precedência diversa diante de outra realizada fática. De fato, é necessária uma ponderação das garantias implícitas e explícitas, diante de cada conjuntura específica, o que torna o Direito, nesses casos difíceis, uma questão de decisão em construção e não de cognição intelectiva de uma suposta vontade prévia.
Especificidades empíricas ou normativas podem em um contexto levar a uma resposta e, em outra situação, conduzir a conclusão diversa, mais adequada à hipótese. Tal possibilidade evidencia a importância da explicitação do raciocínio desenvolvido pelo intérprete e, por conseguinte, da motivação da decisão tomada. Isto até mesmo considerando a necessidade de se manter a unidade e harmonia do sistema, o que se obtém sempre que são reduzidos os riscos de decisões arbitrárias. Não há dúvida que a indicação das razões de fato e de direito com base em que o intérprete decidiu diminui, significativamente, a subjetividade aleatória da atividade interpretativa, evitando uma eleição desarrazoada de um princípio em detrimento de outro.
Frise-se, com fundamento no magistério de Tercio Sampaio Ferraz Jr, que a decisão é uma situação comunicativa que pressupõe evidências da racionalidade com base em que se realizou:
“A decisão, portanto, é ato de comunicação. É ação de alguém para alguém. Na decisão jurídica temos um discurso racional. Quem decide ou quem colabora para a tomada de decisão apela ao atendimento de outrem. O fato de decidir juridicamente é um discurso racional, pois dele se exige fundamentação. Não deve apenas ser provado, mas com-provado. (… ) Por isso, uma decisão que não conquiste a adesão dos destinatários pode ser, apesar do desacordo, um discurso fundamentante (racional).
A regra suprema do discurso decisório jurídico é a do dever de prova: quem fala e afirma responde pelo que diz. Para ser racional, o discurso decisório tem de estar aberto à possibilidade de questionamento. Se, num momento final, a decisão jurídica termina as questões conflitivas, pondo-lhes um fim, isso não quer dizer que, durante todo o processo, ela não seja argumentada.”[37]
Tem-se clara, portanto, a importância da motivação, de modo que o operador do direito não possa, nos chamados casos difíceis, utilizar concepções pessoais de justiça, praticando verdadeiro ato de vontade. É induvidosa a modificação substancial no papel do operador do Direito na aplicação do ordenamento. Ao contrário da aplicação automática de um conjunto de regras, admite-se a atividade construtiva de uma cadeia lógica de peças que se originam de realizações coletivas anteriores e podem ser organizadas sob influxo de novos aspectos sociais, jurídicos e econômicos. Reconhece-se ser impossível manter uma visão única, solitária, quando da tomada de decisões diversas. Afinal, o operador do direito não está imune às especificidades da sua realidade, nem mesmo aos seus valores. Ao reconstruir a realidade, reconhece-se a inviabilidade de lhe conferir uma solidão soberana. A decisão produz-se num verdadeiro devir processual. Nesta atividade, deve-se buscar a incidência imparcial dos direitos fundamentais consagrados na ordem jurídica consideradas todas as circunstâncias particulares, o que implica investigação da sua adequabilidade. Não é admissível que esse contexto resulte em arbítrios e subjetividades.
Com atenção a todos esses aspectos, impõe-se analisar os direitos fundamentais em questão neste caso, além dos direitos à publicidade e de acesso à informação, já examinados no item 2.
5. Da proteção aos presos, do princípio da dignidade humana e do direito à imagem
O primeiro aspecto a se reconhecer é o de que aquele que pratica um ilícito penal, conforme a definição dos crimes e das contravenções penais na ordem jurídica, entra em conflito com a própria sociedade e não apenas com eventuais vítimas do seu comportamento. Em determinadas circunstâncias previstas no ordenamento, antes mesmo de se concluir o juízo delitivo positivo na seara jurisdicional em segundo instância, tem-se presentes as condições para que alguns dos direitos sejam limitados de modo grave, como é o caso das hipóteses que autorizam a prisão ainda na fase das investigações preliminares. O fato de se estar diante de circunstâncias especiais que autorizam a suspensão ou restrição de um direito fundamental como a liberdade de ir e vir, em desfavor de quem é acusado de praticar crime, não exclui, contudo, os direitos fundamentais assegurados ao indivíduo. Assim, já se tem delineado clara uma tensão: de um lado, os direitos da sociedade ofendidos por quem cometeu o delito e, de outro, os direitos do indivíduo, autor do crime ou da contravenção.
Nesse contexto, a Constituição da República protege não só a sociedade, com todas as normas de natureza punitiva criminal e instrumentalização processual penal, além de garantias como acesso às informações não protegidas pelo sigilo, mas também o indivíduo, a quem se assegura direitos fundamentais, mesmo quando presos durante a persecução criminal. Com objetivo de proteger a sociedade, o ordenamento prevê, v.g., as prisões provisórias, sendo certo que, nos casos em que se as autoriza, nem mesmo a presunção de inocência pode afastar a sua validade, pelo que se admitem prisões preventivas, em flagrante, temporárias e até mesmo as por pronúncia e sentenças condenatórias sem trânsito em julgado, desde que atendam os pressupostos normativos e interpretação jurisprudencial fixada de modo vinculante pelo STF. Por outro lado, a circunstância de ter delinquido não retira do preso (provisório ou definitivo) alguns direitos fundamentais e garantias consagrados na CR, outros previstos em tratados internacionais já ratificados conforme as regras do ordenamento brasileiro, além de inúmeras regras da legislação, como é o caso da Lei de Execução Penal (Lei 7.210) e da Lei de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/65). O próprio artigo 38 do Código Penal reitera a determinação constitucional de que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.
Sendo assim, nem mesmo na Constituição há proteção exclusiva e absoluta de somente uma categoria de interesses (sociais, da vítima ou do preso), o que exige observância da razoabilidade, ao buscar harmonizar os diversos bens jurídicos em situação de tensão. Como parâmetro fundamental a orientar a ponderação entre os direitos em conflito, tem-se a proteção à dignidade humana, um dos fundamentos da República, conforme determinação constitucional (art. 1º, III da CR).
A doutrina contemporânea elucida que o princípio da dignidade da pessoa humana como valor constitucional supremo sofreu também uma evolução, não se referindo hoje a um conceito abstrato e negativo (num quadro de individualismo metodológico), mas se inserindo “no âmbito de uma sociedade concreta e individualizada, que traça valores, metas e fins a atingir pelo legislador, inclusive o legislador constituinte, não importa se originário se derivado.” Em relação aos direitos fundamentais sociais mais básicos, tem dupla dimensão, a saber, individual e social, donde resulta o seu papel de motor do desenvolvimento e aperfeiçoamento da ordem jurídico-constitucional.[38]
Nesse contexto a dignidade humana baliza a hermenêutica dos direitos fundamentais à luz da exigência de proporcionalidade, o que implica inúmeros reflexos, conforme reconhecido por diversos autores:
“Respeita-se a dignidade da pessoa quando o indivíduo é tratado como sujeito com valor intrínseco, posto acima de todas as coisas criadas e em patamar de igualdade de direitos com os seus semelhantes. Há o desrespeito ao princípio, quando a pessoa é tratada como objeto, como meio para a satisfação de algum interesse imediato.
O ser humano não pode ser exposto – máxime contra a sua vontade – à mera curiosidade de terceiros, para satisfazer instintos primários, nem pode ser apresentado como instrumento de divertimento alheio, com vistas a preencher o tempo de ócio de certo público. Em casos assim, não haverá exercício legítimo da liberdade de expressão.”[39]
A inviabilidade de se tratar como objeto pessoas, mesmo quando acusadas da prática de crimes que justifiquem seu aprisionamento na fase investigatória policial, decorre do próprio artigo 5º, X da CR que fixa como invioláveis a honra e a imagem das pessoas. Outrossim, o artigo 5º, III da Constituição da República determina que ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar da matéria, elucida os parâmetros da proteção constitucional:
“O direito à preservação da honra e da imagem, como o do nome, não caracteriza propriamente um direito à privacidade e menos à intimidade. Pode mesmo dizer-se que sequer integra o conceito de direito à vida privada. A constituição, com razão, reputa-os valores humanos distintos. A honra, a imagem, o nome e a identidade pessoal constituem, pois, objeto de um direito, independente, da personalidade.
A honra é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação. É direito fundamental da pessoa resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito de preservar a própria dignidade – adverte Adriano de Cupis – mesmo fictícia, até contra ataques da verdade, pois aquilo que é contrário à dignidade da pessoa deve permanecer um segredo dela própria. Esse segredo entra no campo da privacidade, da vida privada, e é aqui onde o direito à honra se cruza com o direito à privacidade.
A inviolabilidade da imagem da pessoa consiste na tutela do aspecto físico, como é perceptível visivelmente, segundo Adriano de Cupis, que acrescenta: ‘Essa reserva pessoal, no que tange ao aspecto físico – que, de resto, reflete também personalidade moral do indivíduo -, satisfaz uma exigência espiritual de isolamento, uma necessidade eminentemente moral’.”[40]
Diversos autores reconhecem que proteger o direito à imagem vem se mostrando uma preocupação cada vez mais acentuada. A ideia é não confundir a liberdade de expressão jornalística, o acesso à informação pelos cidadãos e a publicidade dos atos investigatórios não sigilosos com converter desgraças em instrumento de diversão ou com promover um espetáculo “destinado a entreter”, independentemente da gravidade dos fatos e da legitimidade das prisões realizadas. O poder estatal da persecução criminal exige comedimento e comprometimento com a eficácia máxima necessária sem o sacrifício indevido de direitos, devendo os atos ser orientados pelo princípio da prevenção e da precaução, mormente quando se está diante de bens jurídicos em conflito, todos constitucionalmente protegidos. Será preciso ponderar qual a medida de realização da transparência máxima, que informe os cidadãos, sem causar, arriscadamente, prejuízo à imagem de quem ainda é apenas investigado, não foi condenado, e poderá sofrer para sempre o resultado de uma exposição desnecessária ou de condutas que chegam a ser apelativas em certas situações.
Ao tratar do direito dos acusados e dos limites da exposição da sua imagem, Manoel Jorge Silva Neto apresenta situações que se encontram em uma “zona de certeza positiva” (em que a divulgação da imagem não só é possível como é recomendável) e outras que se enquadram numa “zona de certeza negativa” (em que a exposição é vedada, até mesmo com expressa proibição legal):
“Tema que envolve grande discussão é o pertinente ao direito de imagem – retrato dos indiciados em inquérito civil ou penal ou de acusados em processo penal.
Obviamente, no caso de acusados que se evadem do distrito de culpa, furtando-se à persecução penal, não há qualquer fundamento em restringir-se a divulgação de retrato pelos jornais, posto que o interesse público quanto à captura impõe veicular-se a imagem fisionômica, quer nos veículos de mídia, quer nos conhecidos cartazes de ‘procura-se’.
Também não se esgrimirá dúvida sobre a completa impossibilidade de criança ou adolescente acusado de ato infracional ter a sua imagem divulgada por jornais e televisões, principalmente em virtude da redação dos arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990).
A resistência que se promove à divulgação de retrato de indiciados em inquéritos civil ou penal ou de acusados em ação penal baseia-se no fato de a repercussão a notícia, sem atendimento ao princípio da necessidade, vulnerar direito individual.
É possível também que o retrato publicado em jornais ou redes de televisão imponha efeitos negativos a indiciado ou acusado, impedindo-lhes até de frequentar locais públicos.”[41]
Em situações que se enquadram no que a doutrina administrativista chama de “zona cinzenta” de certeza, Manoel Jorge Silva Neto reafirma “a importância do atendimento ao princípio da necessidade, a fim de que o juiz possa confrontar o caso concreto e a necessidade de veiculação do retrato: se há interesse público nesta divulgação, permitir-se-á se propague o retrato; será sempre vedada, no entanto, se o que existe é tão-só o interesse do público, mera curiosidade” e destaca:
“Algo diferente da divulgação do retrato é a mera notícia sobre indiciamento ou início de processo de qualquer outra espécie.
Nesses casos, não será oponível ao veículo de mídia a proibição de noticiar, principalmente porque o indiciamento ou o início de qualquer processo contra o indivíduo resultaram de atividade de órgãos do Estado, no caso a polícia judiciária e o Ministério Público. E, à exceção de hipóteses nas quais o sigilo tenha sido imposto judicialmente ou pela própria autoridade de cada uma dessas instituições – em ambos os casos devidamente fundamentado o sigilo -, não estão autorizados a omitir dados de inquéritos civis, policiais ou de ações propostas.”[42]
Cautelas que admitem a divulgação do indiciamento, inclusive pela imprensa, mas que vincula a exposição da imagem do preso (provisório ou definitivo) a especificidades do caso concreto que justifiquem tal medida, são reconhecidas também por estudiosos do Direito Penal e Processual Penal. Assim ensina Guilherme de Souza Nucci:
“a honra e a imagem de quem é levado ao cárcere já sofrem o natural desgaste imposto pela violência da prisão, com inevitável perda da liberdade e a consequente desmoralização no âmbito social. Por isso, não mais exposto deve o condenado ficar, enquanto estiver sob a tutela estatal. É, pois, razoável e justo que se proteja o sentenciado contra qualquer forma de sensacionalismo (exploração escandalosa da imagem de alguém ou de fatos). (…) a execução penal lida com a segurança pública e com a dignidade da pessoa humana, por si só em situação rebaixada por estar cumprindo pena, com direitos fundamentais cerceados.
Assim, deve-se preservar o sigilo das informações concernentes à segurança e à disciplina dos presídios, bem como é fundamental evitar a exposição do preso à mídia e à população em geral. Cumprimento de pena não é show, nem tampouco divertimento para terceiros.”[43]
Dessas lições resulta que é preciso distinguir o direito à informação da exposição da imagem do investigado, quando preso. A liberdade de informar, que é um direito fundamental e especialmente um dever das autoridades públicas quando não se tratar de hipótese de sigilo prevista em lei, tem claramente um aspecto individual e público, sendo manifesto o fato de desempenhar uma função social. Nessa linha de raciocínio, tem-se o entendimento de José Afonso da Silva, segundo quem “O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação de pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação”, motivo porque se fala em “direito de feição coletiva”. Com base nas ideias de Albino Greco, sublinha a transformação de direito que nasce como direito subjetivo do indivíduo – garantia de liberdade individual – e que se afirma em “direito da coletividade à informação”.[44]
Esse direito coletivo à informação, contudo, não significa a indispensabilidade de, em regra, ainda na fase de investigação, expor-se o rosto do preso, mesmo porque a liberdade de informação sujeita-se aos limites da proteção constitucional à imagem e à honra, como aspectos ou atributos da personalidade humana. Uma coisa é assegurar o cidadão, em não se tratando de hipótese de sigilo, conhecimento sobre fatos objetivos da persecução criminal. Outra coisa é exibir a imagem de um preso provisório, ainda quando da elaboração do inquérito policial. E outra pior, tão comum, é o fazer mediante acusações levianas e julgamentos precipitados, cujo objetivo é aviltar, envergonhar e humilhar o acusado, mesmo quando somente iniciadas as investigações. A sensação é a do exercício da opressão por quem agora detém o poder (de apurar, de noticiar) como uma vingança social que nenhum resultado positivo assegura à sociedade e, muitas vezes, nem mesmo à(s) própria(s) vítima(s), malgrado os prejuízos induvidosos à vida do suspeito, da sua família e à viabilidade de reinserção futura na comunidade.
A Ministra Cármen Lúcia, ao relatar o HC 89.429-RO (1ª Turma do STF), em que se analisou a pertinência do uso de algemas no momento da prisão, fixou em seu voto a inadmissibilidade de, num Estado Democrático, ter-se medidas que passem a ser símbolo do poder arbitrário de um ser humano sobre o outro, que sejam forma de humilhação pública ou que se tornem instrumento de submissão indevida. E advertiu:
“Vivemos, nos tempos atuais, o Estado espetáculo. Porque muito velozes e passáveis, as imagens têm de ser fortes. A prisão tornou-se, nesta nossa sociedade doente, de mídias e formas sem conteúdo, um ato de grande teatro que se põe como se fosse bastante a apresentação de criminosos e não a apuração e a punição dos crimes na forma da lei. Mata-se e esquece-se. Extinguiu-se a pena de morte física. Mas instituiu-se a pena de morte social.
Se a prisão é uma situação pública – e é certo que a sociedade tem o direito de saber quem a ela se submete – é de se acolher como válida juridicamente que, se o preso se oferece às providências policiais sem qualquer reação que coloque em risco a sua segurança, a de terceiros e a ordem pública, não há necessidade de uso superior ou desnecessário de força ou constrangimento.”
O STF entendeu que providências não podem resultar em abuso de medidas e instrumentos:
“E abuso, qualquer que seja ele e contra quem quer que seja, é indevido no Estado Democrático. A Constituição da República, em seu art. 5º, III, em sua parte final, assegura que ninguém será submetido a tratamento degradante, e, no inciso X daquele mesmo dispositivo, protege o direito à intimidade, à imagem e à honra das pessoas. De todas as pessoas, seja realçado. Não há, para o direito, pessoas de categorias variadas. O ser humano é um e a ele deve ser garantido o conjunto dos direitos fundamentais. As penas haverão de ser impostas e cumpridas igualmente por todos os que se encontram em igual condição, na forma da lei.”
A conclusão do Supremo Tribunal Federal no referido julgado adequa-se, com perfeição, à hipótese em discussão: “A prisão há de ser pública, mas não há de se constituir em espetáculo. Menos ainda, em espetáculo difamante, ou degradante para o preso, seja ele quem for. (…) Não é com mais violência que se cura violência. Não é com mais degradação que se chegará a honorabilidade social.” Ao contrário, atos de degradação cometidos por agentes públicos enquadram-se como abuso de autoridade, nos termos do artigo 4º, h da Lei Federal nº 4.898. O referido dispositivo define abuso de autoridade qualquer ato lesivo da honra, ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Nesse sentido, se no lugar de apenas informar conforme a liberdade constitucionalmente assegurada e de cumprir a publicidade que incide como exigência constitucional de transparência, a autoridade policial, sem qualquer razão fática, objetiva e suficiente, expõe a imagem de um preso provisório, tem-se uma atuação desarrazoada, que não atende as condições da proporcionalidade como critério hermenêutico da conduta necessária na espécie.
Não se olvide que atitudes sensacionalistas de profissionais da segurança pública ou da imprensa podem ofender a dignidade do preso cuja imagem deve ser preservada, com exclusão de “apresentações formais” que sejam somente espetáculo desnecessário à luz do interesse público. Lembre-se que, depois de expor a imagem de alguém ainda na fase inicial da persecução criminal, os danos sofridos são dificilmente reversíveis, sendo o “direito ao esquecimento” uma utopia inexequível em tempos de eternização no mundo virtual. É manifesto que a imagem de alguém preso imprime, perante a sociedade, com grande intensidade, uma força da ideia da culpabilidade. E, se ao final ficar caracterizada a inocência do indivíduo, é certo que as consequências da exposição inicial não desaparecerão, com atingimento do potencial de uma existência futura digna. Sem dúvida, a marca que decorre da visualização de alguém como preso, acusado da prática de crime, consiste numa lesão inevitável na sua vida subsequente, motivo porque as razões para se correr tal risco, ainda quando do inquérito, devem ser sólidas, comprovadas e suficientes para os ônus que lhe são implícitos. Nem se diga que eventual ressarcimento civil poderia compensar medida dessa natureza, visto que ofensas à dignidade humana não conseguem ser integralmente compensadas mediante substituição pecuniária. Não é lícito devassar a intimidade, a imagem e a honra de indivíduos submetendo-os à eternização da vinculação a ilícitos penais numa etapa em que pode sequer haver certeza quanto aos fatos, insuficientes o volume de dados conhecidos e apurados.
O potencial de se estigmatizar quem teve a imagem marcada pela divulgação do seu rosto como “preso” é tão grande que precisa ser considerado o este caráter maléfico irreversível quando da análise da pertinência de se realizar a exposição, ou não. Isso até mesmo em se considerando que, com o volume de informação noticiada pelos veículos jornalísticos e nas redes sociais, a grande parte das pessoas certamente não terá interesse em acompanhar se um determinado preso, depois de alguns meses ou de muitos anos, foi declarado inocente, ou não. E, se inocente, dificilmente a notícia da absolvição atrairá o mesmo interesse existente quando do aprisionamento. A rotulação inicial do sujeito petrifica-se no “inconsciente coletivo” e, também, a sua rejeição. Repita-se, pois: não pode ser considerada regra geral a conduta que expõe ao público a imagem visual de um acusado, antes de qualquer juízo em sentença ou acórdão sobre sua culpabilidade, tendo em vista o perigo real do indivíduo ficar marcado perante toda a comunidade que daí em diante poderá rejeitá-lo e sua família, com ônus significativos pela repugnância e exclusão social.
Se há bandidos, e eles existem e requerem a atuação firme e constritiva dos órgãos competentes, muitas vezes com insuficientes recursos humanos, materiais e de infraestrutura, isso não significa que quem atua na persecução penal está autorizado para descumprir o máximo da proteção decorrente dos direitos fundamentais previstos na Constituição da República. Ao contrário, quem atua nessa seara tem, dentre os enormes desafios, dois especialmente difíceis: o primeiro é lidar cotidianamente com a marginalidade e com o que de pior os seres humanos são capazes de produzir; o segundo é não deixar que o mau contamine suas atitudes, sendo seu dever manter o equilíbrio, a correção e o respeito em cada comportamento, buscando o máximo de realização do núcleo duro dos direitos fundamentais e concreção das normas em vigor, mesmo quando condições ideais de trabalho não são realidade administrativa.
Quanto à sociedade, não há dúvida que os cidadãos estamos acuados por um aumento dos índices de criminalidade, agravados pela crise econômica por que passa o país. O desafio é também manter o equilíbrio e não transformar a sensação de insegurança generalizada e o inconformismo diante da impunidade em um desejo ilimitado de submeter quaisquer suspeitos à execração pública. Um erro nesse aspecto pode até trazer uma sensação instantânea de conforto, mas há grande probabilidade de que comportamentos dessa natureza tenham como resultado somente novas ofensas à dignidade, o que alimenta, e não elimina, a espiral de violência de que somos vítimas. Fazer um sistema punitivo funcionar, mormente quando o objetivo de recuperação dos deliquentes se apresenta quase como uma utopia diante dos limites atuais, requer firmeza, disciplina e serenidade de cada um dos envolvidos. Isso principalmente quando falta vontade política coesa e instrumentalizada, em andamento em todos os níveis da federação, que viabilize o aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança.
6. Da ponderação com emprego da proporcionalidade na decisão sobre a viabilidade de se expor, ou não, a imagem visual do preso na etapa das investigações policiais. O artigo 20 do Código Civil.
Atentando para o panorama delineado “supra”, a exposição da imagem, para se justificar, deve assentar-se em elementos objetivos e concretos que demonstrem o interesse público na divulgação, sem o uso de expressões genéricas ou assertivas abstratas que sejam destituídas de base fática comprovada. Não se trata de criar dificuldades à atividade policial, nem de impedir o acesso à informação pela população, mas de reconhecer como essencial a necessária motivação que demonstre a potencialização dos recursos de investigação pela providência requerida.
Quem enfrenta as dificuldades da apuração criminal cotidianamente, em determinadas situações percebe a necessidade de utilizar de informar os cidadãos o rosto do criminoso, viabilizando que outras pessoas se protejam no futuro. Pode ser cabível divulgar a imagem de um preso, p. ex., pela própria necessidade de se obter novas denúncias, estando caracterizado, naquele caso, que a não participação da população na apuração do(s) crime(s) pode comprometer o resultado da persecução criminal. Nesta hipótese, a divulgação será útil à administração da justiça e, inclusive, à manutenção da ordem pública, donde se extrai sua licitude.
À obviedade, não são todos os delitos que admitem colaboração por parte dos cidadãos, nem mesmo isso é necessário em boa parte das investigações e muito menos a exposição traz sempre garantias para melhor administração da justiça e manutenção da ordem pública. No entanto, se assim for, que se colacionem os aspectos objetivos comprobatórios, que se motive a decisão pública e que se promova a divulgação sem excessos sensacionalistas, sem quaisquer condutas degradantes ou desumanidades. Eficiência, nesta hipótese, não implica espetáculo, nem fomentar um “jornalismo de sangue” cujos profissionais atuam como “carrascos ou inquisidores instantâneos”. Ao contrário, o que se requer é um comportamento que observe a proporcionalidade entre a medida adotada (divulgação da imagem do preso) e o resultado necessário (apuração da autoria e materialidade da conduta, com a persecução criminal conforme as normas do ordenamento). O STJ já advertiu que:
“3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam à dignidade do ser humano; o exercício do direito de forma anormal ou irregular deve sofrer reprimenda do ordenamento jurídico.”[45]
Por um lado, não cabe falar em “lei da mordaça prévia” como decidiu o CNMP, em 31.05.2016, ao apreciar o Pedido de Providências n° 1.00092/2016-93, fixando que não é caso da autoridade pública abster-se de falar durante toda a investigação e que “se houver excesso, cabe ação disciplinar”. Referido entendimento, aplicável nos casos em que não se trate de uma das hipóteses de sigilo, permite a realização dos direitos fundamentais do acesso à informação, do dever de publicidade e da liberdade de expressão. Por outro lado, informar não implica necessariamente a possibilidade de expor a imagem do investigado, ainda que preso provisório. Na verdade, ponderando os mencionados direitos fundamentais com outros, como é o caso da proteção constitucional à imagem e da presunção de inocência, tem-se que divulgar a imagem é situação excepcional, que exige elementos objetivos e comprovados que a justifiquem, sendo essa uma verificação possível somente no caso concreto.
Ao tratar de tema semelhante, a doutrina assevera que o risco deve ser avaliado no caso concreto, para cada informação ou conjunto de informações considerado[46]. Não se pode decidir com base em temores hipotéticos, sendo necessário avaliar cada realidade individualmente quanto ao dano real que sua divulgação poderá causar. Obviamente, optar pelo sigilo de forma indiscriminada é algo totalmente desarrazoado e incompatível, assim como promover a divulgação irresponsável também pode resultar em ofensa às garantias constitucionais, em especial à dignidade humana. Não se admite exposições em situação na qual haja simples rumores, suposições ou mesmo meras insinuações sem lastro probatório, sob pena de se caracterizar abuso estatal. Não é tolerável a prática de exibição intencional do rosto do acusado à uma parte da mídia, de nítida atuação sensacionalista, sem qualquer ganho aos interesses públicos presentes, seja de eficiência da persecução penal, seja no esclarecimento dos fatos delituosos investigados. O equilíbrio na avaliação de cada realidade e dos interesses desenvolvidos é o que se requer das autoridades competentes, sem que sucumbam às tentações da exploração midiática, tão comum em tempos de “sociedade da informação” e “sociedade do espetáculo”.
Tratando especificamente da matéria em comento, Thelma Regina Braga Damasceno escreve:
“Ressalte-se, por oportuno, que vedar incondicionalmente a publicidade dos atos investigatórios pode representar ameaça à sociedade, reforçando a corrupção, o engavetamento e a destruição de evidências pela autoridade corrupta. Como já foi afirmado no presente trabalho, somente um sopesamento de princípios pode garantir a equidade da investigação criminal, por vezes sendo restringida sua publicidade e garantindo-se o sigilo em benefício de sua própria eficácia e, em outros casos, permitindo o livre acesso às diligências e colheitas de provas, assegurando à sociedade e demais poderes o controle da atividade policial.”[47]
Diante das cautelas e advertências exaustivamente levadas a efeito, insiste-se que, a publicidade não é absoluta e também não o é o direito à proteção da imagem do preso. Os Tribunais Superiores já decidiram, em mais de uma oportunidade, não ser absoluta a proteção à privacidade nem a outros direitos fundamentais[48]. Confira-se o julgado em que o STJ fixou que “liberdade de informação e de manifestação de pensamento não constitui direito absoluto, podendo ser relativizado quando colidir com o direito à proteção da honra e à imagem dos indivíduos, bem como quando ofender o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”[49] e, ainda:
“Não obstante, a intimidade e a privacidade das pessoas, protegidas no que diz respeito aos dados já transmitidos, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, assim como quaisquer outros direitos fundamentais, os quais, embora formalmente ilimitados (isto é, desprovidos de reserva), podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível à garantia de outros direitos constitucionais.”[50]
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao decidir o Agravo de Instrumento 1.0000.18.108797-4/001, aduziu argumentação como a ora explicitada e já sustentada no Parecer 15.753, de 14.09.2016, exarado no exercício da consultoria jurídica da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Depois de reconhecer o direito à informação, o Desembargador Alberto Vilas Boas aduziu que, ainda assim, a exposição da imagem do preso para ser justificada deve “assentar-se em elementos objetivos e concretos que demonstrem o interesse público na divulgação, sem o uso de expressões genéricas ou assertivas abstratas que sejam destituídas de base fática comprovada”. Segundo o ilustre magistrado, é possível haver o interesse na divulgação das imagens quando útil à investigação criminal, tendo em vista a possibilidade de aparecerem novas vítimas: “Assim, parece ser possível conceder a antecipação da tutela recursal para atender ao pedido subsidiário formulado pela recorrente e assegurar que a divulgação da imagem e voz dos presos seja realizada de forma excepcional, cautelosa e motiva quando o caso concreto demandar a divulgação para melhor administração da justiça, a potencialização dos recursos da investigação, a obtenção de novas denúncias, a participação da sociedade na apuração do delito, a manutenção da ordem pública ou outro ganho objetivo e concreto”.
À luz dessas ponderações, cabe à autoridade ou órgão competente, em cada realidade, levar a efeito a ponderação dos direitos fundamentais em face dos elementos fáticos evidenciados na espécie. Expor deliberadamente a imagem do preso, sem motivo legal e empírico que assim permita, implica grave ofensa constitucional e o infrator responderá penal, civil, disciplinarmente e, se for o caso, por improbidade administrativa. De fato, a divulgação pode ser necessária desde que haja motivação para tanto, como, p. ex., quando se a realiza para dar efetividade à “Administração da Justiça” ou para assegurar a ordem pública, situações em que é claro o interesse da sociedade. Assim ocorre, p. ex., quando se divulga a imagem de um maníaco sexual que, com o rosto conhecido, terá maiores dificuldades para cometer novos crimes, mesmo na hipótese de ser colocado em liberdade durante o trâmite do processo. Também pode se estar em um contexto em que é induvidosa a utilidade de levar a público a notícia da suspeita e da prisão, ensejando que outras pessoas reconheçam, ou não, o envolvimento do acusado do delito, assim viabilizando a correta conclusão do inquérito. Em situações com benefícios sociais equivalentes e/ou com razões fáticas de peso que sirvam de suporte para a decisão pública, poderá ocorrer a divulgação da imagem do encarcerado provisório, observada a exigência de motivação prévia de maneira clara, congruente e explícita.
Em nenhum momento, esta hipótese poderá autorizar “apresentações formais do preso” que, divulgadas com rapidez e amplitude nos mais diversos veículos de comunicação, representam apenas submissão gratuita à execração pública, sem qualquer benefício na solução das incertezas ainda pendentes. A preocupação é, pois, a de viabilizar a exposição quando necessário e útil, bem como evitar a divulgação que, em última instância, não trará resultados positivos, mas somente trará satisfação vaidade pessoal de quem atuou nessa etapa investigativa.
Desde 2002 têm sido identificados critérios no artigo 20 do Novo Código Civil para definir as hipóteses em que se pode admitir a divulgação da imagem:
“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.” (sem destaque no original)
A doutrina, ao interpretar o transcrito preceito, conclui “a contrario sensu” que é legítima a exposição da imagem de alguém quando isso for necessário para manter a ordem pública ou à administração da justiça. Referida conclusão, sustentada a partir de dispositivo da lei civil, coaduna-se com o raciocínio construído a partir das normas constitucionais e penais de regência.
Em análise sobre essa controvérsia o professor e Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais Jeferson Botelho assentou, com indiscutível lucidez e equilíbrio:
“Por fim, é preciso entender que a Polícia deve existir como instrumento de efetivação de direitos, respeitando e sendo respeitada, vital para o estado de direitos como oxigênio para a vida, mas sempre como via de mão de dupla, sendo necessária e imprescindível para estabelecer um humanismo secular, que segundo o pensador francês Luc Ferry, trata-se de uma filosofia baseada na razão, na ética e na justiça.
Reafirma-se que a Polícia não é instrumento de rotulação de criminosos, não é fábrica de fogos de artifícios para promoção de espetáculos, não é produtora de eventos midiáticos, não é agente FIFA para ostentar o preso como precioso troféu de Campeão do Mundo, nem mesmo concessionária de marcas registradas. Pelo contrário, deve ser a primeira promotora de justiça e o primeiro juiz natural das causas sociais.
(…)
Por esse motivo, toda e qualquer atuação da máquina pública deve sempre pautar-se nos princípios que a esta norteia, sob o risco de incidir na ilegalidade e abuso de poder, o que, por conseguinte pode trazer prejuízos ao estado, e ainda ao agente que praticou o ato, tendo em vista a possibilidade de ação regressiva por parte do estado.
Conclui-se, afirmando que a Lei pátria protege a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, e especificamente em relação aos presos, pune o responsável pelo sensacionalismo gratuito e pirotécnico.
Mas é verdade que esse direito é relativizado justamente pelo artigo 20 do Código Civil, no instante em que a exposição da imagem é devidamente autorizada, ou quando a divulgação da imagem atender o interesse da Administração da Justiça ou ainda se a exposição for importante para questões de ordem pública, surgindo, neste contexto, o conflito de direitos fundamentais, a ser dirimido pela prevalência da supremacia do interesse público, adotando-se aqui a técnica da colisão excludente, com afastamento do direito à imagem e sobrepujança do direito à administração da justiça e ordem pública.”[51]
Por fim, quanto à independência dos Delegados de Polícia na condução da investigação policial, destaca-se que o exercício das competências pelos agentes públicos é delimitado pelo sistema jurídico, incluídos aí os direitos fundamentais. Sendo assim, os direitos fundamentais são parâmetros que as autoridades policiais não podem descumprir, sendo clara a sua vinculação e a possibilidade de controle da sua observância no cotidiano das atividades investigatórias. Ser independente, à obviedade, não significa falta de limites, mas, ao contrário, sujeição às restrições do ordenamento e o reconhecimento de determinadas atribuições como instrumento de consecução dos deveres previstos como competências nas normas vigentes. Assim sendo, as autoridades policiais estão sujeitas aos direitos fundamentais, cabendo-lhe, nos chamados “casos difíceis” levar a efeito a ponderação valendo-se da proporcionalidade, com atenção aos fundamentos jurídicos e peculiaridades do caso concreto.
7. Conclusão
Diante do exposto, entende-se que:
– os direitos à imagem, à presunção de inocência, à liberdade de expressão, à publicidade, de ser informado e à dignidade consubstanciam direitos fundamentais previstos no ordenamento brasileiro com status constitucional e, portanto, vinculam e obrigam qualquer agente público, mesmo nas situações em que haja tensão quando da sua incidência simultânea no caso concreto;
– direitos fundamentais não tem caráter absoluto e cabe à autoridade competente, nos chamados “casos difíceis”, valer-se da técnica da ponderação e da proporcionalidade para buscar a menor restrição possível ao núcleo duro daqueles incidentes na espécie e, mediante o juízo hermenêutico adequado, motivadamente reconhecer o comportamento negativo que é vedado e a conduta que deverá se realizar;
– a liberdade de informar, que é um direito fundamental e especialmente um dever das autoridades públicas quando não se trata de hipótese de sigilo prevista em lei, incide nos inquéritos policiais, quando presentes os pressupostos normativos, sendo claros os seus aspectos individual e público, além de manifesta função social;
– o direito coletivo de acesso à informação e o dever de publicidade dos agentes públicos não significam autorização para, ainda na fase de investigação, expor-se a imagem de preso, máxime em se considerando a incidência cumulativa da proteção constitucional à imagem, à honra e à dignidade, pelo que se entende que uma coisa é assegurar o cidadão, em não se tratando de hipótese de sigilo, conhecimento sobre fatos objetivos da persecução criminal e outra coisa é exibir a imagem visual de um preso provisório, ainda quando da elaboração do inquérito policial, com resultados vexatórios e marcas irreversíveis para o acusado e sua família na comunidade, a comprometer, inclusive, futura reinserção social;
– a divulgação da imagem do preso durante a fase investigatória é hipótese excepcional cuja presença, ou não, deve ser analisada caso a caso, com emprego da técnica da ponderação e atenção aos pressupostos que a autorizam; para que seja admissível, é indispensável que haja evidências de que a exposição viabilizará a melhor administração da justiça, a potencialização dos recursos de investigação, a obtenção de novas denúncias, a participação da sociedade na apuração do delito, a manutenção da ordem pública ou outro ganho objetivo, concreto, suficiente e provado a demonstrar o interesse público da divulgação, sem o uso de expressões genéricas ou assertivas abstratas, destituídas de base fática induvidosa;
– uma vez apuradas condições objetivas que tornam excepcionalmente admissível a divulgação da imagem do preso, é preciso que a autoridade competente motive a sua decisão indicando os aspectos fáticos e jurídicos que a embasam, de forma a evitar arbítrios e/ou abusos, sendo sempre vedado qualquer excesso sensacionalista, conduta degradante, humilhação indevida, acusação leviana ou aviltamento da condição do acusado.
[1] DAMASCENO, Thelma Regina Braga. O sigilo da investigação e o princípio da publicidade. Fortaleza: Escola Superior do Ministério Público. Universidade Federal do Ceará. 2003, p. 20.
[2] BENTO, Leonardo Valles. Acesso a informações públicas. Princípios internacionais e o direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015, p. 20.
[3] BENTO, Leonardo Valles. Acesso a informações públicas. Princípios internacionais e o direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015, p. 103 e 209.
[4] BENTO, Leonardo Valles. Acesso a informações públicas. Princípios internacionais e o direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015, p. 20.
[5] QUEIROZ, Cristina. O Princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 112.
[6] QUEIROZ, Cristina. O Princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. op. cit., p. 213.
[7] PINTO, Alexandre Guimarães Gavião. Direitos Fundamentais: Legítimas Prerrogativas de Liberdade, Igualdade e Dignidade. Revista de Direito nº 79-2009, Disponível em 13 de setembro de 2010 no Banco do Conhecimento. http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/. Acesso em 08.06.2016.
[8] PINTO E NETTO, Luísa Cristina. Os Direitos sociais como limites materiais à revisão constitucional. Juspodivm, 2009, p. 18 e 133.
[9] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 532; 536-537.
[10] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, op. cit., p. 586; 577.
[11] LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1064-1065.
[12] QUEIROZ, Cristina. O Princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. op. cit., p. 85.
[13] LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, op. cit., p. 1067.
[14] FIGUEIREDO, Marina Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 86-87.
[15] QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e problemas de justiciabilidade, op. cit., p. 27.
[16]FIGUEIREDO, Marina Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 14.
[17] FIGUEIREDO, Marina Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade, op. cit., p. 14-15.
[18] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, op. cit., 2006, p. 643, destaque no original.
[19] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, op. cit., 2006, p. 646-647.
[20] LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014.
[21] ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 54.
[22] FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 52.
[23] BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: critérios de ponderação. interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, v. 235, p. 7-8, jan./mar. 2004.
[24] BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Administrativo, op. cit., v. 235, p. 9.
[25] DERRIDA, Jacques. Força de lei. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 44-45.
[26] BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 5.
[27] BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, op. cit., p. 23, itálico no original.
[28] GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 84, n. 719, p. 59.
[29] GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 84, n. 719, p. 59.
[30] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, v. 241, p. 24-25, grifo nosso, itálico no original.
[31] SHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos Fundamentais: proteção e restrição, p. 108. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001
[32] VILHENA. Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: editora Malheiros, 2006. Colaboração de Flávia Scabin, p. 161
[33] BRANCO, Paulo Gustavo Gonet et al. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 230-231
[34] MS n° 23.452-RJ, rel. Min. Celso de Mello, Pleno do STF, DJU de 12.05.1990, p. 20
[35] MS n° 23.832-DF, rel. Min. Cezar peluso, Pleno do STF, julgamento em 18.03.2004
[36] REsp n° 625.337-RS, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJe de 15.12.2008
[37] FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 322
[38] QUEIROZ, Cristina. O Princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial, op. cit., p. 155-157
[39] MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 450
[40] SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 209
[41] SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 522
[42] SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 523
[43] NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 463-464; 586-587
[44] SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 247
[45] REsp n° 1.169.337-SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ, DJe de 18.12.2014
[46] BENTO, Leonardo Valles. Acesso a informações públicas. Princípios internacionais e o direito brasileiro, op. cit., p. 216-217
[47] DAMASCENO, Thelma Regina Braga. O sigilo da investigação e o princípio da publicidade. Fortaleza: Escola Superior do Ministério Público. Universidade Federal do Ceará. 2003, p. 20
[48] ROMS n° 9.887-PR, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma do STJ, RSTJ, v. 152, p. 182 e ROMS n° 15.771-SP, rel. Min. José Delgado, 1ª Turma do STJ, DJU de 30.06.2003
[49] Ag. Regimental no Agravo em REsp n° 163.884-RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma do STJ, DJe de 07.11.2014
[50] REsp n° 1.504.883-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ, DJe de 01.02.2016
[51] BOTELHO, Jeferson. Perspectivas da colisão de direitos fundamentais: direito de imagem do preso e a dúplice necessidade de Administração da Justiça e Manutenção da Ordem Pública. Revista Jus Navigandi. Teresina: ano 19, n. 3997, junho de 2014. Disponível em https://jus.com.br/artigos/28214. Acesso em 07.06.2016