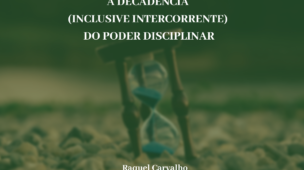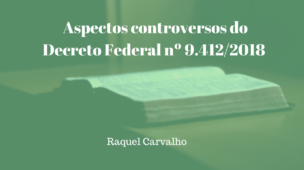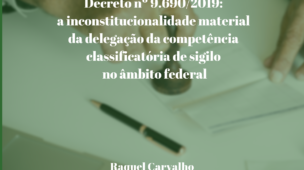Tempo de leitura: 39 minutos
Sumário
- 1) Lula, Moreira Franco, Cristiane Brasil: em discussão a moralidade administrativa.
- 2) Nomeação para cargos de Ministros de Estado: ato político ou ato administrativo discricionário?
- 3) Cabe controle judicial?
- 4) Remanesce “discricionariedade política” nos atos de governo?
- 5) A moralidade administrativa como limite à função de governo
- 6) Desvio de poder e a dificuldade probatória.
- 7) O necessário e esquecido instrumento: dever de motivação
- 8) Conclusões
1) Lula, Moreira Franco, Cristiane Brasil: em discussão a moralidade administrativa.
Nos últimos três anos, o Brasil enfrentou sucessivas controvérsias sobre a nomeação de Ministros de Estado. Em março de 2016, quando da nomeação do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva para a Casa Civil pela então Presidente Dilma, foram impetrados os Mandados de Segurança nº 34.070 e nº 34.071 no STF. Ao decidir cautelar e monocraticamente os processos, o Ministro Relator Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do ato de nomeação. Após fazer considerações sobre desvio de poder e ofensa à moralidade, afirmou que o objetivo perseguido era deslocar para o Supremo o foro das ações em trâmite na Justiça Federal de Curitiba que tinham como réu o ex-Presidente Lula, o que impediria a sua prisão na chamada Operação “Lava Jato” e implicaria obstrução das medidas judiciais cabíveis.
Menos de um ano depois, em fevereiro de 2017, o Presidente Michel Temer nomeou como Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco. Decisões de juízes federais de Macapá, Rio de Janeiro e de Brasília suspenderam liminarmente a posse, tendo sido impetrados os Mandados de Segurança nº 34.609 e nº 34.615 no STF. Também neste caso arguiu-se o descumprimento da moralidade e a ocorrência de desvio de poder, visto que o objetivo perseguido seria a outorga de prerrogativa de foro, pois quatro dias antes do ato de nomeação ocorrera a homologação de delegações premiadas de executivos da Odebrecht, com citação de Moreira Franco como articulador de negócios do governo com empreiteira no setor de aeroportos. O Ministro do STF Celso de Mello indeferiu as liminares em ambos Mandados de Segurança, por entender que o ônus da prova é de quem alega o desvio de poder e que as informações do Presidente da República no sentido da legalidade do ato de nomeação presumiam-se verdadeiras. Ademais, o Ministro Relator afirmou que a nomeação para a função de Ministro não equivale a um círculo de imunidade, sendo cabível investigação criminal perante o STF, ausente qualquer obstrução da justiça.
Menos de um ano depois, em janeiro de 2018, o Presidente Michel Temer nomeou a deputada do PTB(RJ) Cristiane Brasil como Ministra do Trabalho. Foram distribuídas ações populares na Justiça Federal do Rio alegando a inconstitucionalidade da nomeação, sendo que o magistrado da 4ª Vara Federal de Niterói suspendeu a nomeação e a posse da deputada, por ofensa à moralidade, em razão de condenações trabalhistas já transitadas em julgado. Na Suspensão de Liminar nº 0000114-14.2018.4.02.0000, o desembargador Guilherme Couto de Castro, vice-presidente do TRF da 2ª Região, manteve o entendimento do Juiz Federal de primeira instância. O Vice-Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ao analisar a Suspensão de Liminar nº 2.340, modificou o entendimento da Vara Federal de Niterói e do TRF da 2ª Região. Afirmou que não há proibição legal a qualquer condenado em ação trabalhista assumir cargo público, devendo-se respeitar o núcleo de conveniência e oportunidade do Chefe do Executivo. Também entendeu haver grave risco de dano irreparável “demonstrado pela necessidade de tutela da normalidade econômica, política e social”, não sendo aceitáveis liminares que suspendam atos de nomeação de posse, sem clara prova de violação ao ordenamento. A Ministra Cármen Lúcia, Presidente do STF, ao analisar em 21.01.2018 a Reclamação nº 29.508, considerou plausível a alegada usurpação da competência do STF pela decisão do STJ na SL nº 2.340. O entendimento inicial foi confirmado em 08.02.2018, quando a Ministra Cármen Lúcia reconheceu “demonstrada, portanto, a usurpação da competência da Presidência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a medida de contracautela apresentada no Superior Tribunal de Justiça”, motivo por que julgou procedente a reclamação e cassou a decisão anteriormente exarada pelo STJ.
Nas três situações, foi discutido se o princípio da moralidade consagrado no artigo 37 da Constituição da República incidia diretamente sobre os atos de nomeação, com força coercitiva suficiente para rechaçar quaisquer comportamentos ofensivos resultantes das provas produzidas. Em nenhum caso se discutiu o dever de motivar o ato de nomeação; prevaleceu a máxima segundo a qual cargos comissionados são passíveis de nomeação e exoneração “ad nutum”, ou seja, o seu provimento depende apenas da confiança da autoridade competente. Em algumas searas tratou-se do respeito ao “mérito administrativo”, à conveniência e à oportunidade reservadas ao governante, bem como dos limites (ou a ausência deles) quanto à competência política do Chefe do Executivo escolher os seus Ministros de Estado. Doutrinadores fizeram considerações sobre a ausência de lei em sentido formal com regras expressas sobre a matéria, advogados entenderam descabido o controle judicial de atos políticos e denunciaram o excesso de “judicialização da política”, sendo inúmeras as críticas sobre a insegurança causada pela diversidade de decisões e fundamentações do Judiciário para situações equivalentes.
Sobre alguns desses aspectos, esclarecimentos de natureza jurídica são necessários:
2) Nomeação para cargos de Ministros de Estado: ato político ou ato administrativo discricionário?
É antiga a controvérsia sobre a natureza jurídica do ato do Presidente da República ao nomear alguém para a função de Ministro de Estado. Há quem entenda que se trata de um ato político, praticado com fundamento na Constituição e cujo objetivo é designar um agente público para o exercício de função de governo, além das atividades hierárquicas superiores daquela esfera de competência da Administração Pública. O agente designado qualifica-se como “agente político”, exercendo atividade estrutural na organização dos Poderes do Estado.
Em sentido diverso, tem-se aqueles que sequer reconhecem a “função de governo” como uma função jurídica autônoma do Estado. Para essa segunda corrente, o Estado tem apenas três funções – legislativa, judicial e administrativa -, sendo a nomeação para o cargo de Ministro ato administrativo, vinculado à legalidade em sentido restrito. Numa perspectiva mais restritiva ainda, há quem defenda que o ato administrativo em questão designa um servidor para um cargo comissionado, com obediência às regras estatutárias vigentes. Mais do que não falar em “ato político de nomeação”, não haveria a própria categoria de “agente político” neste caso.
Quem entende tratar-se de um agente político a exercer função de governo (primeira corrente) reconhece que as obrigações exercidas pelo agente, o tempo de exercício das suas funções e demais aspectos do regime jurídico têm assento constitucional. Esses agentes foram designados pelo Chefe do Executivo, delegatário da soberania popular por meio das eleições, e realizarão escolhas políticas que devem se adequar ao texto da CR, com sujeição ao controle político-social subsequente. A esfera de liberdade para fazer escolhas de natureza política é ampla, visto que cabe à pessoa física investida na função de governo em determinada área formatar a vontade do Estado mediante decisões fundamentais que cumpram a Constituição, representando e protegendo os interesses primários da sociedade.
Já para aqueles segundo quem se está diante de um servidor público em sentido estrito, nomeado para o exercício de cargo comissionado mediante atos administrativos submetidos a regras legais e outras exigências normativas (segunda corrente), eventual discricionariedade técnica reconhecida ao titular no cotidiano das suas tarefas é de natureza administrativa e de menor espectro do que o admitido para quem exerce função de governo. Isso teria repercussão, inclusive, na investidura desses agentes que exigiria regras legais específicas, impositivas de condições precisas e pressupostos singulares a serem observados pela autoridade nomeante. A independência no exercício das atribuições é mais restrita ao servidor comissionado do que a liberdade que se outorga ao agente político para fixar os rumos da ação do Estado, comandando a estrutura hierárquica da Administração Pública.
Há repercussões concretas de diversas ordens. A esfera de responsabilidade política disciplinada pela Lei nº 1.079/50, pelo Decreto-lei nº 201/67 e pelo Lei nº 7.106/83, incidente sobre os agentes políticos mencionados nos respectivos diplomas, não se aplica aos servidores públicos comissionados. Os últimos estarão sujeitos às normas de combate à improbidade administrativa veiculadas na Lei Federal nº 8.429/92. O STF, logo após editar a súmula vinculante 13 que proíbe o nepotismo, excluiu a sua incidência em relação aos agentes políticos. Malgrado divergências quanto à manutenção dessa exclusão nas recentes decisões monocráticas dos Ministros da Corte Suprema, ainda hoje a proibição abstrata de nepotismo é pressuposta mais restritamente em relação aos cargos comissionados do que em relação àqueles que exercem função política. O fato é que considerar um Ministro de Estado agente político ou servidor comissionado terá consequência em aspectos do regime jurídico a que ele está submetido e, inclusive, no controle judicial cabível. Daí a importância de se definir a natureza do vínculo entre este agente público e o Estado.
No exercício dessa tarefa, entende-se que Ministros de Estado exercem clara função de planejamento na execução de políticas públicas, comandando o processo de escolha das medidas cujo objetivo é concretizar as obrigações constitucionais. A eles cabe estruturar a rede administrativa que executará as atribuições em determinada área de governo, tomar decisões e executar as ações subsequentes, além de, se necessário, reformatar e redirecionar a vontade do Estado e sua linha de ação, conforme os resultados obtidos. Aqueles que indicam diretrizes basilares e que traçam estratégias para concretizar os deveres do Estado previstos na Constituição exercem função de governo e integram, pois, a categoria de agentes políticos. Com a devida vênia dos que entendem em sentido contrário, não se enquadram como “servidores comissionados” agentes públicos que são designados pelo Chefe do Executivo eleito para a realização de políticas representativas sociais.
Por conseguinte, além de reconhecer a função de governo como uma das funções do Estado, defende-se que agentes políticos a exercem como categoria independente dos agentes públicos. Esses agentes detém a especificidade de não serem designados para um mandato em razão de eleições, mas sim mediante ato unilateral do Chefe do Executivo, nos termos da Constituição e atendidos requisitos que sejam previstos em lei. Essa característica em nada altera o seu enquadramento como agentes políticos, nem mesmo exclui o regime jurídico incidente na espécie.
3) Cabe controle judicial?
Houve um tempo em que se falava em “função de governo” exercida por “agente político” com o objetivo de afastar o controle do Poder Judiciário. Isso porque a função de governo era definida como uma função pré-jurídica, ou seja, anterior à positivação do Direito. Sendo assim, não haveria que se falar em controle pelo Judiciário de limites jurídicos; a função de governo viria “antes” do Direito e estaria, portanto, livre das suas exigências, condicionamentos e formas de controle. Tal impedimento quanto ao controle judicial poderia atingir a própria designação do agente político encarregado da função de governo, excluindo, já no processo de investidura, qualquer atuação jurisdicional.
Entendia-se, assim, que os atos políticos, de condução dos negócios públicos, estavam fora dos limites do controle judicial. O fato de o seu fundamento encontrar-se na Constituição, reconhecendo às autoridades o exame político das conveniências públicas, terminava excluindo os atos de governo da apreciação do Judiciário no lugar de os submeter ao controle pelos magistrados.
A evolução na compreensão das funções do Estado levou ao reconhecimento de que todas elas, inclusive a função de governo, submetem-se à Constituição, devendo-se observar a exigência de juridicidade, a qual exige o atendimento do ordenamento como um todo. Se o fundamento de validade dos atos de governo praticados por agentes políticos é o texto constitucional, ao Judiciário cabe assegurar o atendimento dos ditames da Constituição, no caso de qualquer violação.
Quanto à noção de juridicidade, é certo que o Estado, quando atua por quaisquer dos seus Poderes, deve conformidade não mais apenas à lei, mas ao Direito, compreendido este como um conjunto de normas dentre as quais se incluem os princípios expressos e implícitos da Constituição, princípios gerais de Direito, tratados ratificados pelo Congresso Nacional, bem como as regras veiculadas por leis, regulamentos editados por decretos dos Chefes do Executivo e por atos regulatórios da Administração (portarias, instruções, circulares, resoluções, avisos etc). Exclui-se a ideia reducionista de uma aplicação mecânica e técnica somente de leis em sentido formal. Reconhece-se a importância do arcabouço normativo da Constituição, inclusive dos princípios nela implícitos e expressos. Nessa perspectiva, a independência da cúpula de Executivo, no exercício da função de governo, não afasta submissão à Constituição. Portanto, as normas da CR vinculam a prática de atos que vão desde a investidura de Ministros de Estado em seus cargos à formulação e execução de políticas públicas subsequente.
Consequentemente, a plasticidade política admitida aos atos de governo e o próprio reconhecimento desta categoria autônoma de agentes políticos deixou de atender o objetivo de tornar insindicáveis as decisões relativas à sua investidura e atuação cotidiana. Ser agente político e governar deixou de ser imunização quanto ao controle efetivo de juridicidade, sendo inadmissível falar em insindicabilidade dos atos de governo. Isso porque a inadequação ao texto constitucional não pode resvalar apenas no controle político-eleitoral, a ser exercido na hipótese de disputa de mandato seguinte. Impõe-se o controle jurisdicional cabível, a saber, do respeito aos limites constitucionais vinculantes do comportamento público, bem como o cumprimento de outras exigências do regime jurídico vigente. Tal conclusão decorre não só do artigo 5º, XXXV da CR, mas do próprio status adquirido pelas demais normas do texto constitucional, com força coercitiva positiva e negativa, diretamente na realidade pública.
O fato de a independência dos poderes estar consagrada no artigo 2° da Constituição não implica obstar o cumprimento da função primordial do Judiciário, nem exclui o dever dos órgãos dos demais Poderes cumprirem as normas constitucionais, quando do exercício de qualquer das funções do Estado. Afinal, a discricionariedade política que se reconhece ao agente político que exerce função de governo não se confunde com arbitrariedade governamental. Na medida em que critérios constitucionais vinculam a atividade de governo, o próprio princípio da juridicidade — condutor dos limites do controle judicial — deixa evidente a legitimidade da intervenção judicial, se presente omissão ou ação contrária ao ordenamento.
Em outras palavras: se há submissão constitucional, não há como afastar o controle pelo Judiciário previsto no artigo 5º, XXXV da CR. A circunstância de a nomeação de um agente político ser função de governo não exclui exigências principiológicas como moralidade, impessoalidade e eficiência (artigo 37, “caput” da CR), nem impede o controle pelo Judiciário quanto à obediência constitucional.
4) Remanesce “discricionariedade política” nos atos de governo?
Cumpre advertir que reconhecer a legitimidade da tutela jurisdicional das normas da Constituição sobre atos de governo é coisa diversa de extinguir a discricionariedade política reservada ao Governo. E embora seja cabível o controle judicial de constitucionalidade das ações de governo, não se admite que o Judiciário invada o cerne político das escolhas governamentais, aspecto reservado à autoridade estatal competente.
Admite-se, pois, o controle pelo Judiciário da moralidade, eficiência e proporcionalidade de um ato político como a nomeação de um Ministro de Estado, por se tratar de aspecto vinculado da função de governo, com claro fundamento constitucional. A “filtragem constitucional” em face de princípios constitucionais não se exclui pelo simples fato de se tratar de função de governo, sendo claro o objetivo de impedir soluções ilegítimas à luz da CR.
Após a incidência dos limites constitucionais, é comum que ainda remanesça discricionariedade à autoridade governante para fazer suas escolhas políticas. Assim, o mérito político, o núcleo da liberdade de governo, permanece na cúpula do Executivo e nas mãos dos agentes políticos, sendo impensável pretender transferir todas as escolhas ao Poder Judiciário.
O cuidado que se impõe, portanto, é o de afirmar a possibilidade do controle dos limites constitucionais que regem o ato político e, simultaneamente, respeitar os limites da discricionariedade política reservada àqueles que exercem a função de governo. Reitera-se que o Judiciário não pode tomar para si toda a atividade governamental, desde a nomeação de um Ministro de Estado, a formatação de uma política pública até a sua implementação, incluindo-se atos de natureza internacional e até mesmo relação entre órgãos de diversos Poderes. Fazer cair a regra da imunidade de controle dos atos políticos não é o mesmo de transferir para o Judiciário a integralidade da competência para a sua prática. Ou ainda: reconhecer a legitimidade da tutela jurisdicional das normas da Constituição sobre um ato de governo como a nomeação de Ministro de Estado é coisa diversa de extinguir a discricionariedade política reservada ao Governo e de recusar os próprios limites da competência constitucional.
O grande desafio é definir, em cada caso concreto, o que é mero controle de juridicidade relativo à observância de princípios constitucionais e o que ultrapassa esse limite, passando a significar substituição da escolha legítima da autoridade de governo por critério subjetivo dos magistrados, com base em seus próprios valores. A pergunta é: está-se diante de um adequado controle de legalidade (sob o prisma contemporâneo da juridicidade) ou o magistrado foi além do que permite o artigo 5º, XXXV da CR, suprimindo a discricionariedade política do Executivo e assumindo ele próprio o espaço do mérito governamental?
A resposta à indagação somente é possível em cada realidade e exige a exata compreensão das exigências principiológicas como a moralidade administrativa.
5) A moralidade administrativa como limite à função de governo
A obediência ao princípio da moralidade pelo Estado impõe ao agente público que revista todos os seus atos das características de boa-fé, veracidade, dignidade, sinceridade, respeito, ausência de emulação, de fraude e de dolo. São qualidades que devem aparecer, de modo explícito, em todos os atos praticados, sob pena de serem considerados viciados quanto ao conteúdo e sujeitos aos efeitos da nulidade. Isso porque a moralidade incide diretamente na prática estatal e impede qualquer conduta violadora (atuação negativa do princípio), bem como exige comportamentos que a concretizem (atuação positiva do princípio).
Embora se reconheça a dificuldade de estabelecer o conteúdo preliminar, teórico e preciso da moralidade administrativa, certo é que o Direito ampliou o seu círculo para abranger matéria que antes dizia respeito apenas à moral. Abarcou a moral administrativa (artigo 37, “caput” da CR). E, a despeito de existirem preceitos morais não incorporados pelo Direito, na seara em que ocorreu esta incorporação verifica-se a ciência jurídica ampliou o seu domínio. Qualquer conduta de um agente público desconforme com os padrões éticos de atuação administrativa, que afete o interesse público ou direito de terceiros que se relacionam com o Estado, desatende não apenas uma norma moral, mas o próprio direito vigente.
Consequentemente, mesmo quando há margem de liberdade para eleição da opção mais conveniente e oportuna à luz da necessidade governamental, como ocorre na designação de Ministros de Estado, é indispensável o cumprimento das normas que integram o sistema jurídico pátrio, pois se trata de limitações obrigatórias à discricionariedade em tese. Também a discricionariedade política está limitada pelo regime jurídico vigente, destacando-se dentre as normas constitucionais o princípio da moralidade.
É importante frisar que, além da moral extraída da disciplina interna da Administração, é preciso reconhecer como integrante da moralidade administrativa parâmetros externos de legítimos padrões éticos sociais impostos aos agentes públicos e àqueles que travam relações com o Estado. Não basta à caracterização da moralidade administrativa um padrão ético específico e diverso da moral comum. É necessário extrair o seu conteúdo também de aspectos exógenos, ou seja, das pessoas, da comunicação que se estabelece entre o interior da Administração e a exteriorização de seu universo. Sob este prisma, é insuficiente afirmar que a moralidade administrativa é aquela encontrada dentro dos próprios quadros da Administração Pública, tratando-se de uma norma aberta que exige integração diante da ética que os cidadãos esperam daqueles que exercem competência estatal.
De fato, especialmente em países com cultura pública corrompida por práticas fraudulentas, seria fatal à moralidade administrativa defini-la a partir de critérios exclusivamente internos ao Estado. É fundamental que se defina a ética esperada do Poder Público a partir de aspectos externos, referenciados pela conduta correta que um cidadão médio espera da autoridade que em seu nome exerce poder. Nesse sentido, a moralidade impõe fidelidade aos interesses superiores do Estado, identificados com os objetivos legítimos cuja proteção se impõe àquele que integra o serviço público.
Abstratamente, portanto, não atende a moralidade a designação de alguém para o cargo de Ministro com a finalidade de deslocamento do foro de ação, assim como não atende a moralidade nomear para o comando do órgão superior encarregado do planejamento e execução de determinadas normas alguém cuja conduta já foi reconhecida, por decisão transitada em julgado, como desidiosa e desrespeitosa àquelas normas. O exercício leal das atribuições de governo como Ministro de Estado impede o vício do desvio de poder e o desprezo às normas que deve proteger e concretizar. Infringe a moralidade o Chefe do Executivo que se afasta do zelo que lhe é imposto ao escolher os auxiliares diretos que exercerão função de governo, caracterizando-se dolo, fraude ou outro procedimento desonesto conforme os elementos de prova apurados em cada situação.
É imoral administrativamente e, portanto, inconstitucional, comportamento que se afaste da honestidade com os fins públicos primários, que caracterize fraude aos objetivos estatais ou que demonstre incompatibilidade com a correção mínima necessária para a atuação lisa e escorreita do Estado. O ato de governo que se mostra malicioso, negligente ou imprudente considerando-se o padrão de conduta que os cidadãos esperam do exercício da função pública, conforme valores sociais vigentes e absorvidos no sistema jurídico, é comportamento anômalo que merece repulsa imediata nas esferas de controle. Repugna ao Direito qualquer ato contrário à conduta estatal escorreita. Também ação de governo deve ser orientada em favor da veracidade e equidade, sendo ambas instrumento de realização do bem público e das necessidades da sociedade, de modo que prevaleça o equilíbrio necessário ao Estado Democrático de Direito.
O controle judicial que se limita a identificar a imoralidade administrativa, com base em elementos probatórios seguros, não ultrapassa os limites do artigo 5º, XXXV da CR, mas, ao contrário, assegura a concretização constitucional sistêmica.
6) Desvio de poder e a dificuldade probatória.
Ocorre desvio de poder quando a intenção subjetiva do agente divorcia-se da finalidade prevista no ordenamento como legítima, visando proteger um interesse particular ou outro interesse público não amparado juridicamente. Neste caso, a autoridade exerce uma competência que tem, ou seja, faz algo que pode realizar, mas o faz para atender um objetivo diferente do que o ordenamento admite. Há, portanto, “desvio na finalidade” que se busca alcançar naquele caso. O desvio de poder é hipótese de imoralidade administrativa, pois a autoridade que se afasta da finalidade legal age com indiscutível má-fé.
Também nos casos em que há discricionariedade política, como no exercício da função de governo, utilizar de uma competência constitucional (Presidente da República nomear Ministros de Estado) para atingir outro objetivo (obter deslocamento do foro competente para processar determinar ação) é incorrer no vício do desvio de finalidade. O fato de a autoridade fazer algo que pode – nomear auxiliar direto – não legitima que o faça em flagrante contexto de falsidade institucional. A imoralidade ressai clara pela desonestidade em manipular o sistema para afastar o seu adequado funcionamento. E não se pode admitir que o fim real do ato de nomeação seja diverso da finalidade legal imposta pelo sistema: a escolha adequada do agente que objetivamente é capaz de exercer a atividade de auxiliar direto do Chefe do Executivo, observados os parâmetros constitucionais.
A grande dificuldade em situações dessa natureza é apurar o desvio entre a finalidade prevista no ordenamento para o exercício daquela competência e a intenção do agente quando da prática do ato de governo. Como provar que o Presidente da República, que pode nomear os seus Ministros conforme critério de confiança, o fez não para escolher o agente político adequado ao comando de uma seara mas, na verdade, buscou livrar o nomeado do funcionamento repressivo do controle judicial em primeiro grau de jurisdição? A investigação de aspectos anímicos, ou seja, internos do agente é tarefa desafiadora das melhores técnicas de instrução probatória e de coleta de elementos indicadores de desvio.
O doutrinador Cretella Júnior debruçou-se sobre a dificuldade probatória do desvio de poder e enumerou um conjunto de condutas ou deslizes mais comuns que são indícios da presença deste vício: a) contradição do ato com a conduta posterior do administrador; b) contradição do ato com conduta anterior; c) motivação contraditória (deixa o intérprete perplexo a respeito da verdadeira razão inspiradora do administrador); d) motivação insuficiente ou exagerada (a superabundância de motivação, com apresentação de uma série infindável de fatos e de considerações prolixas e não concludentes, enseja a suspeita de que a decisão decorre de uma opção, cujos verdadeiros motivos é preferível que se conservem ocultos); e) alteração dos fatos; f) ilogicidade manifesta (Zanobini expressa a expressão ilogicidade para designar a falta de nexo lógico entre os vários motivos ou entre a motviação e o dispositivo do ato); g) injustiça patente; h) disparidade de tratamento; i) derrogação de norma interna (segundo Aldo Bozzia derrogação injustificada, em um caso particular, de disposições internas de caráter geral, editadas pela Administração é também sintoma de desvio de poder, p. ex.: violação de circulares); j) precipitação com que o ato foi editado (precipitação com que a autoridade, nomeada ou eleita, assina a decisão, antes mesmo da posse, ordenando que seja executada no dia seguinte ao em que entrou em exercício); l) desigualdade de tratamento dispensada aos interessados; m) caráter sistemático de certas proibições; n) caráter geral atribuído a medida que deveria permanecer particular; o) inexistência, de fato, dos motivos apresentados pelo administrador para justificar a decisão tomada; p) circunstâncias locais que antecederam a edição do ato; q) travisamento, segundo a doutrina italiana: escreve Cino Vitta que se entende por travisamento a averiguação ou a avaliação dos fatos, em geral, de modo artificial, com a finalidade de submetê-los à aplicação de preceito de lei, sob o qual, de outro modo, não teriam sido enquadrados; para Zanobini, ocorre o desvio de poder por alteração – igual a travisamento – todas as vezes que o ato é editado sobre pressuposto da existência ou da inexistência dos fatos, que dos atos resultam, de modo certo, inexistente ou subsistente; r) feixe convergente de indícios. (CRETELLA JÚNIOR, José. A prova no “desvio de poder”. Revista de Direito Administrativo, São Paulo, Renovar, v. 230, p. 198)
Se houver prova clara de que a nomeação do Ministro de Estado incorreu em desvio de poder ou se coletados elementos suficientes da diversidade entre a finalidade pública da investidura e o objetivo que se buscou alcançar, é indispensável reconhecer a imoralidade da conduta governamental e sua inconstitucionalidade. Impõe-se, neste caso, o controle judicial repressivo, de modo a restaurar a juridicidade do sistema jurídico.
7) O necessário e esquecido instrumento: dever de motivação
Já se sublinhou a dificuldade de provar o desvio de poder. No caso de atos de nomeação de Ministros de Estado, a dificuldade é maior em razão do entendimento de que tais cargos são livre nomeação e exoneração, o que significaria ausência do dever de motivar. Ao tratar das funções de governo exercida por agentes nomeados unilateralmente pelo Chefe do Executivo, a maioria defende que o vínculo de confiança política necessário dispensa a obrigação de indicar os elementos fáticos e jurídicos que conduzem à escolha. Assim sendo, o Presidente da República estaria livre para nomear e para exonerar Ministros de Estado sem ter que explicar as razões com base em que escolheu investir e desinvestir o agente político da função ministerial. Quando da nomeação do Ministro, não seria preciso indicar elementos que demonstrem a competência do indicado, a moralidade administrativa na escolha feita, nem a imparcialidade do juízo político levado a efeito.
O único limite que essa corrente defende quanto aos motivos do ato de nomeação de Ministro do Estado é a chamada “teoria dos motivos determinantes”. Segundo essa teoria, embora o agente público não esteja obrigado a apresentar justificativas do ato praticado no exercício de discricionariedade política ou administrativa, caso venha a apresentar os motivos fáticos e jurídicos do seu comportamento, tais razões passam a integrar a sua validade. A inexistência de um fato invocado como motivo, o enquadramento jurídico errado às normas do ordenamento ou mesmo a ausência de permissivo constitucional levariam à invalidação da conduta do Estado.
Observe-se que tal posicionamento incentiva que as autoridades públicas não motivem suas escolhas. Se permanecerem silenciosas, não cometerão qualquer ilicitude e o controle judicial será praticamente impossível. Mas se alegarem certas situações de fato como base da sua atuação e/ou se indicarem normas jurídicas como fundamento da sua escolha, tais motivos fático e legal devem necessariamente existir, ser verdadeiros e corretamente qualificados no sistema jurídico, sob pena de controle judicial posterior. Assim sendo, o Presidente da República que nomeia um Ministro sem qualquer fundamentação não apresenta elementos que podem ser considerados para verificar se houve desvio de poder, ou não. Já se declara que o faz em razão da experiência pregressa do indicado na área e em face do comprometimento moral no exercício profissional anterior, tais aspectos devem ser verdadeiros; caso não sejam e se se fizer prova em sentido contrário, é possível falar em vício, inclusive eventual desvio de poder, e se torna cabível o controle judicial repressivo. Nesse contexto, a ocorrência de desvio de poder, a adequada avaliação do cumprimento da eficiência, moralidade, proporcionalidade e impessoalidade só se dão se o Chefe do Executivo quiser. Se não desejar, permanece em silêncio, tornando praticamente inviável a aferição da subserviência aos princípios constitucionais. Se “por liberalidade” (visto que não obrigado), indicar motivo fático e legal, estes integram a validade do seu comportamento e se sujeitam ao controle de juridicidade, inclusive a moralidade, em especial o desvio de poder.
Não se aquiesce com raciocínio que conduza a uma conclusão tão teratológica como o incentivo à não motivação. Na verdade, não só a existência do motivo, mas a própria motivação, é exigência vinculante da prática de qualquer comportamento público, inclusive atos de governo. Não se trata de requerer exaustiva indicação fática ou extenso raciocínio jurídico que amparem a ação estatal. Basta que, de forma sucinta, os fundamentos normativos e a situação empírica sejam demonstrados, de modo que seja possível aferir o cumprimento das normas principiológicas de regência.
A verdade é que se evoluiu no tocante à posição originária do Direito Administrativo brasileiro a propósito do dever de motivar os comportamentos estatais, em especial os atos de governo praticados por agentes políticos. Segundo a primeira corrente, não haveria a obrigatoriedade de enunciar os pressupostos de fato do ato administrativo, salvo na hipótese de ato vinculado ou em face de expressa exigência legal. Diverge-se deste entendimento segundo o qual a discricionariedade que outorga à autoridade uma margem de liberdade para escolha segundo conveniência e oportunidade políticas evidenciaria a desnecessidade de que sejam explicitadas as razões empíricas e teóricas da opção realizada. Ao contrário, defende-se que não se pode admitir que qualquer conduta do Estado, independentemente da sua natureza vinculada ou discricionária, política ou administrativa, possa tornar-se realidade sem a indicação do seu suporte fático e jurídico, principalmente em se tratando de um Estado que se pretende Democrático de Direito.
Mesmo diante da omissão legislativa de exigência expressa de motivação, decorre tal obrigatoriedade do modelo de Estado traçado na Constituição em vigor. Quem exerce poder em nome dos cidadãos, a eles têm de indicar as razões da sua escolha e todas devem necessariamente subserviência à Constituição. Não se ignore que os princípios inafastabilidade da jurisdição, moralidade, transparência, impessoalidade e republicano, dependem da indicação dos motivos fático e legal do comportamento do Estado de modo que seja possível avaliar o cumprimento do seu teor, ou não. Sem motivação, é inviável o controle relativo à concretização do texto constitucional naquela hipótese.
Não se trata de uma formalidade inócua, nem de suprimir a liberdade de escolha, conforme critérios de confiança política, daquele que exercerá a função de governo. Ao contrário, tem-se uma exigência sem a qual o controle de juridicidade do ato de nomeação do Ministro de Estado não consegue se realizar adequadamente, pelo que é clara a instrumentalidade da motivação como mecanismo de garantia de efetividade constitucional. O fato de haver discricionariedade política na designação de um Ministro (e há e esse espaço de liberdade deve ser mantido) não significa ausência de limites constitucionais, nem mesmo afastamento do dever de motivar expressamente a escolha feita.
Destarte, apesar do silêncio quanto a esse aspecto nas discussões travadas nos últimos anos sobre a constitucionalidade das nomeações de Ministros, defende-se que devem ser motivados os atos de nomeação de agentes políticos para o exercício de função de governo e os atos discricionários de nomeação de servidores públicos para cargos comissionados, sob pena de se esvaziar o controle judicial cabível.
Se, a despeito da obrigatoriedade de motivação, a autoridade não se desincumbiu do seu dever, esta falta por si só, caracteriza, em princípio, um vício de conteúdo na ação do Estado, pois significa inobservância de princípio implícito no texto constitucional, deduzido de vários outros como transparência, eficiência e moralidade. Há decisões judiciais no sentido de que a falta de motivação caracteriza, por si só, arbítrio e ofensa ao ordenamento capaz de atrair imediata repulsa pelo Judiciário. Em outras palavras, a simples ausência de fundamentação, que já implica em falta de transparência no tocante às razões de fato e de direito embasadoras do comportamento do Estado, nega vigência a garantias constitucionais basilares, comprometendo a necessária publicidade. Doutrinadores e Tribunais já consideraram que o descumprimento do dever de motivar significa ofensa da autoridade ao direito subjetivo público de todo cidadão ver revelados os pressupostos de fato ou de direito que permitiram ou exigiram o comportamento administrativo.
Embora haja firme posição doutrinária e jurisprudência no sentido de que não se pode ter condescendência com vícios na motivação, igualmente não é lícito ignorar que, em determinadas situações, invalidar o comportamento público exclusivamente com fulcro na falta de motivação clara e lúcida, prévia ou simultânea ao ato, não atende o interesse público primário, pois é possível aferir a juridicidade e a essencialidade da conduta pública para satisfação das necessidades coletivas. Nestes casos excepcionais, cumpre ponderar as normas principiológicas em tensão, fazendo prevalecer aquela que efetivamente conduza à prevalência do interesse social.
8) Conclusões
Buscando evitar contaminações por preferências e radicalismos ideológico partidários, comuns em situações como as ora em exame, reconhece-se quanto à nomeação de Ministro de Estado pelo Presidente da República:
– trata-se de ato político praticado no exercício da função de governo, com submissão às exigências constitucionais (como, p. ex., o princípio da moralidade) e ao controle de juridicidade dos comportamentos do Estado;
– o fato de ser cabível o controle pelo Judiciário da moralidade e da eficiência, por se tratar de aspectos vinculados das funções do Estado (artigo 37, “caput” da CR) não extingue a discricionariedade política reservada ao Chefe do Executivo, nem permite que o magistrado invada o mérito político, substituindo escolhas governamentais legítimas por seus valores pessoais;
– somente em cada caso concreto é possível aferir se se está diante de um adequado controle de juridicidade, incluída a observância dos princípios constitucionais, ou se o magistrado ultrapassou o limite do artigo 5º, XXXV da CR, suprimindo a discricionariedade política do Executivo e substituindo a escolha legítima da autoridade de governo por seus critérios subjetivos;
– é controle de legalidade, na perspectiva contemporânea da juridicidade, reconhecer, abstratamente, que não atende a moralidade designar alguém para o cargo de Ministro com a finalidade de deslocamento do foro de ação, o que caracteriza desvio de poder;
– também é controle de juridicidade reconhecer, abstratamente, que não atende a moralidade nomear para o comando do órgão superior encarregado do planejamento e execução de um conjunto de normas alguém cuja conduta foi reconhecida, por decisão transitada em julgado, como desidiosa e desrespeitosa ao referido sistema jurídico, pois o exercício leal das atribuições de governo como Ministro de Estado impede o desprezo às normas que deve proteger e concretizar, mediante planejamento, coordenação, avaliação e correção das ações públicas no setor;
– diante de prova suficiente, na situação concreta, de que o ato de governo se mostra malicioso, falso, desonesto, fraudulento, manipulador e/ou afastado da boa-fé, considerando-se o padrão ético de comportamento que os cidadãos esperam de quem exerce da função pública, impõe-se reconhecer a imoralidade e, no exercício do controle, reprimir a inconstitucionalidade e restaurar a juridicidade;
– há desvio de poder quando a intenção subjetiva do agente público afasta-se da finalidade legal e busca concretizar um interesse particular ou público distinto daquele que o ordenamento impõe, o que evidencia má-fé e, consequentemente, ofensa à moralidade administrativa;
– a dificuldade em provar o desvio de poder, relacionado a aspecto anímico do sujeito, pode ser reduzida com o entendimento de que todas as condutas do Estado, inclusive as praticadas no exercício de discricionariedade política e administrativa, devem ser motivadas; a indicação do suporte fático e jurídico de um ato político viabiliza o exame da existência e veracidade dos motivos, bem como do adequado enquadramento dos fundamentos jurídicos eleitos, sendo certo que discricionariedade política não se confunde com arbitrariedade governamental;
– devem ser motivados os atos de nomeação de agentes políticos para o exercício de função de governo e os atos discricionários de nomeação de servidores públicos para cargos comissionados, sob pena de se esvaziar o controle judicial com comprometimento, dentre outros, dos princípios inafastabilidade da jurisdição, moralidade, transparência, impessoalidade, eficiência e republicano;
– o controle de juridicidade da nomeação de Ministros de Estado pelo Chefe do Executivo não suprime a discricionariedade política e representa a garantia de efetividade constitucional de exigências principiológicas fundamentais como motivação, transparência e moralidade estatais.
O artigo “O imbróglio na nomeação de Ministros de Estado” foi divulgado no Portal “Direito de Estado”, revista “Colunistas”, a convite do professor Paulo Modesto, sendo aqui disponibilizado com o objetivo de ampliar a reflexão e a discussão sobre a matéria.