Tempo de leitura: 88 minutos
Sumário
- 1. Introdução
- 2. Posição originária: se há vício, o ato é inválido; se não há vício, o ato é válido.
- 3. As primeiras transformações: a convalidação e as gradações de nulidades dos atos administrativos.
- 4. A teoria das nulidades dos atos administrativos em transformação: o caminho até a LINDB
- 5. Observações finais
1. Introdução
Os conceitos de perfeição, vigência e eficácia dos atos administrativos ensejam algumas controvérsias doutrinárias. Considerando possíveis vícios de publicidade, tais noções foram examinadas em artigo específico sobre a matéria, já publicado no “Direito Administrativo Para Todos”.
Não há dúvida, entretanto, que o mais antigo desafio que se enfrenta em relação aos comportamentos da Administração Pública é definir a sua validade, ou não, quando há vícios capazes de comprometê-los. A resposta da ciência jurídica varia conforme o tempo e as normas do ordenamento, sendo certo que entre a bipolaridade maniqueísta da antiga teoria monista e a fluidez da hermenêutica possível em face da moderna LINDB, há nuances infindas, a desafiar análise dos administrativistas.
2. Posição originária: se há vício, o ato é inválido; se não há vício, o ato é válido.
Superada a equivocada ideia de que “le roi ne peut mal faire”, tornou-se inevitável reconhecer que, por vezes, o comportamento administrativo é contaminado por vícios que consistem clara desconformidade com as normas vigentes. Inicialmente no direito público, à época em que o Estado administrava predominantemente mediante atos unilaterais, vigia a teoria monista segundo a qual a presença de vícios no ato administrativo admitiria uma só reação da ordem jurídica descumprida: a sua invalidação.
A ideia era a de que o ordenamento teria sempre uma única resposta diante de qualquer ato administrativo, conforme a presença, ou não, de vícios em seus elementos e pressupostos. Se existente vício em um dos elementos ou dos pressupostos do ato unilateral, impor-se-ia sua invalidação. Se regular o ato administrativo, o mesmo seria válido perante o sistema. Sob este prisma, não haveria sequer que se falar, no Direito Administrativo, em invalidade ou anulabilidade. Só seria válido o ato sem vícios. Qualquer desconformidade implicaria sua extinção, mediante decretação de nulidade.
O professor Hely Lopes Meirelles lecionava:
“O ato administrativo é legal ou ilegal; é válido ou inválido. Jamais poderá ser legal ou meio-legal; válido ou meio-válido, como ocorreria se se admitisse a nulidade relativa ou anulabilidade, como pretendem alguns autores que transplantam teorias do Direito Privado para o Direito Público sem meditar na sua inadequação aos princípios específicos da atividade estatal.”[1]
A quem considere saudoso o tempo em que a Administração Pública, para atuar, tinha à sua disposição contratos administrativos para hipóteses específicas e, no restante das competências, valia-se basicamente de atos unilaterais[2] submetidos ao regime jurídico administrativo que: a) se cumprido, implicava comportamentos válidos; b) se descumprido, tinha como consequência a nulidade, pela presença de vícios intolerados à luz do Direito.
A verdade, entretanto, é que nem mais a Administração vale-se de ações unilaterais na quase totalidade dos seus misteres[3], nem mais se pensa as consequências dos vícios que podem atingir os comportamentos públicos de forma tão bipolar-maniqueísta como originariamente. As transformações não foram radicais, nem rápidas, mas construídas, paulatinamente, com a evolução das figuras jurídicas, surgimento de novas teorias e superveniência de diplomas legais.
2.1. Da validade à licitude numa perspectiva de bloco de juridicidade
A doutrina clássica define a validade a partir da conformidade do ato com o ordenamento, tendo sido expedido em absoluta adequação às exigências do sistema normativo. Malgrado se trate de nomenclatura consagrada no Direito Administrativo, entende-se que o vínculo de conformidade do ato administrativo com o ordenamento evidencia a sua licitude. Sendo o ato lícito desde a sua origem, tem-se que o mesmo ingressou validamente no sistema, ausente qualquer falha capaz de comprometer sua integridade.
Melhor se mostra, portanto, falar-se em licitude, no lugar de validade. Licitude implica atendimento das normas jurídicas de regência. Ato lícito, assim, é aquele que cumpre as exigências legais. Quando apresentar vícios, não mais se sustenta como originariamente que qualquer desconformidade com o sistema jurídico enseja sua extinção mediante invalidação. Na verdade, nem toda desconformidade levará fatalmente à invalidação, pois o ato manter-se-á na ordem jurídica, por já ter escoado o tempo necessário à sua estabilização ou em razão de expressa sanatória por parte do Poder Público ou do terceiro interessado, consoante possibilidades científicas analisadas a seguir.
Como introdução de uma compreensão mais ampla da realidade conceitual sobre a teoria das nulidades no Direito Administrativo, confiram-se lições de doutrinadores portugueses:
“A validade do acto administrativo depende, em primeiro lugar, da sua legitimidade, ou seja, da conformidade com as regras que disciplinam a formação do acto do ponto de vista do interesse público que ele visa prosseguir. O interesse público é o ponto fulcral da validade do acto administrativo: este tem de adequar-se às normas emanadas para a proteção daquele interesse. A legitimidade é, assim, a correspondência ou conformidade do acto administrativo com as normas que o regem, na medida em que daí resulta a suposição de se alcançar o interesse público. (…)
Mais importante é a conformidade do acto administrativo com o bloco da juridicidade (normas legais e princípios jurídicos, preceitos constitucionais de aplicabilidade directa, preceitos regulamentares, etc.). A sua violação corresponde à antijuridicidade do acto administrativo que continua, entre nós, a ser designada por ‘ilegalidade’ do acto administrativo (vícios de ‘legalidade’ ou de juridicidade).”[4]
Para compreender como a visão sobre um bloco de juridicidade chegou à teoria das nulidades no direito administrativo pátrio, é preciso compreender a evolução em nosso sistema jurídico.
3. As primeiras transformações: a convalidação e as gradações de nulidades dos atos administrativos.
No Brasil, uma das mudanças mais relevantes de paradigma doutrinário a propósito das consequências de eventuais vícios dos atos administrativos foi a superação da teoria monista. Já há algumas décadas, predominam aqueles que aderem à teoria dualista segundo a qual a resposta da ordem jurídica pode ser de maior ou menor repulsa, conforme maior ou menor a gravidade do vício apresentado pelo ato administrativo. Um ato que apresenta desconformidade grave em face das disposições jurídicas seria objeto de rechaçamento absoluto pelo ordenamento, merecendo ser expelido mediante ato de invalidação. Já o ato cujo vício for de menor intensidade e que, assim, não justifica expulsão do sistema, sujeita-se à convalidação.
A invalidação e convalidação surgem, neste novo contexto, como mecanismos de restaurar a juridicidade violada, não significando a existência de atos válidos e meio-válidos. Afirmando não haver graus de invalidade, Celso Antônio Bandeira de Mello escreve: “Ato algum em Direto é mais inválido do que outro. Todavia, pode haver e há reações do Direito mais ou menos radicais ante as várias hipóteses de invalidade. Ou seja: a ordem normativa pode repelir com intensidade variável atos praticados em desobediência às disposições jurídicas, estabelecendo, destarte, uma gradação no repúdio a eles.”[5]
A possibilidade de se ter diferença na intensidade de repulsa encontra fundamento no próprio interesse público primário. Como ensinava o saudoso e eterno mestre Paulo Neves Carvalho, uma das idéias mais importantes é a de que na avaliação dos fatores da nulidade, na avaliação do ato administrativo, há que sopesar, confrontar, sempre, a situação posta por intermédio do ato que se diz viciado com a presença do interesse público, isto é, não se invalida apenas em nome de uma desconformidade do ato administrativo com a regra legal, mas ele vai se desfazer ou não em razão da presença do interesse público.
Com efeito, é o interesse público que fundamenta o entendimento de que há dois institutos aptos a recompor a legalidade violada por um determinado vício. Isto porque, se uma desconformidade pode ser sanada, não se justificaria a supressão do ato, à luz do próprio interesse social. Não há que se falar em invalidação, se o ato pode ser convalidado, ou seja, se pode ser repraticado sem vício. Reforça esta premissa o fato de o ato administrativo gozar de presunção de veracidade, atraindo a confiança dos terceiros que merecem respeito à boa-fé e à expectativa de estabilidade nas relações jurídico-administrativas.
No âmbito federal, a Lei n° 9.784/99, após fixar no artigo 53 que a Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, demonstrou no artigo 55 clara preocupação com a segurança e consistência das relações jurídicas ao estabelecer: “Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração”. Tem-se consagrada a invalidação como a extinção do ato administrativo por motivo de ilegalidade e a convalidação como mecanismo de evitar o desfazimento do ato viciado, mediante a correção do defeito sanável apresentado pelo mesmo. Com o instituto da convalidação previsto no artigo 55, buscou-se evitar a vulneração das relações administrativas que decorreria da extinção unilateral de qualquer ato viciado, prevendo-se o dever de sanar vício passível de correção.
Mesmo antes da Lei de Processo Administrativo Federal, de 29.01.99, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já admitia a existência dos institutos da invalidação e convalidação como respostas do ordenamento à presença de vícios nos atos administrativos. O STJ, ao julgar o REsp n° 56.017-RJ, considerou indispensável para a anulação de ato administrativo “o reconhecimento de que (I) tenha ele causado lesão à Administração; (II) sua convalidação não seja viável juridicamente e (III) não tenha servido de fundamento a ato posterior, praticado em outro plano de competência”.[6]
3.1. O instituto da convalidação
A convalidação, nesse contexto, não é forma de extinção de ato administrativo, mas, ao contrário, mecanismo de evitar o seu desfazimento motivado pela presença de um determinado vício. Como o vício em questão possui natureza sanável, entende-se cabível seja repetido o ato com a correção da falta apresentada, recompondo-se a juridicidade no sistema, atendida a necessidade da sociedade de estabilidade das relações jurídicas, com cumprimento do interesse público primário.
A convalidação de que se trata, aqui, não é aquela decorrente do transcurso do tempo (institutos da prescrição e decadência), nem mesmo a que resulta de providência do particular, beneficiário do ato, e interessado na sua preservação (instituto do saneamento). Trata-se, aqui, da convalidação como atividade da Administração de sanar o vício de um comportamento seu passível de correção. A competência privativa para praticá-la, assim, é da própria Administração Pública, não sendo lícito pretender estendê-la ao Judiciário ou ao Legislativo, no exercício das funções típicas de cada um destes poderes.
Na estrutura administrativa, pode convalidar a própria autoridade ou órgão que praticou o ato viciado, se detém competência para sanar o vício; a autoridade ou órgão que, embora não tenham praticado o ato viciado, é quem tem capacidade e competência para suprir a falha administrativa; o superior hierárquico àquele que praticou o ato viciado; alguém a quem a lei outorgou expressa competência convalidatória; o órgão ou autoridade que delegou competência a um inferior que terminou por praticar o ato viciado e, assim, tornou necessário o exercício da autotutela pelo delegante.
Fixada a competência para convalidar, cumpre enfrentar a questão pertinente à sua obrigatoriedade ou caráter facultativo. Embora possa parecer, à primeira vista, que a convalidação é uma simples possibilidade cuja realização é deixada à livre escolha do administrador, é preciso reconhecer que toda competência outorgada a um servidor é mero instrumento de execução do dever que lhe é imposto. Sob este prisma, é necessário compreender o “poder” de convalidar é um dever-poder de agir, como bem ensinava o mestre Paulo Neves, invocando o magistério também do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Destarte, se é possível retificar o vício que atinge um ato administrativo, não há que se falar em invalidação, devendo-se, em regra, saná-lo. Tem-se como irrelevante o fato de não haver determinação expressa da lei ordenando o dever convalidatório. Atendendo as especificidades técnicas de cada ato e atentando para o elemento ou o pressuposto atingido pelo vício, é possível definir se a convalidação é a medida que protegerá o interesse público, ou não. Em caso positivo, impõe-se como obrigatória. Se não é o mecanismo apto à proteger o interesse público primário, afasta-se tal providência, promovendo-se a necessária invalidação do ato.
A única exceção apontada por doutrina superveniente a fim de excluir a regra da obrigatoriedade de convalidação, é a hipótese em que o ato apresenta vício de sujeito em ato discricionário. Neste caso, reconhece-se que optar pela convalidação, ou não, é faculdade outorgada ao agente de fato capaz e competente para praticar o ato.
Daí poder-se concluir que, em regra, a convalidação, nessa perspectiva, é ato vinculado da Administração. Diante da presença dos seus pressupostos específicos, a conduta pública legítima é apenas uma: sanar a falha de menor potencial gravoso. Excetua-se desta regra apenas a incompetência ou incapacidade nos casos em que há discricionariedade (no conteúdo ou no motivo). Nesta hipótese, reconhece-se faculdade de convalidar à Administração. Ou seja, é discricionária a convalidação no caso excepcional de o ato apresentar vício de sujeito e originária discricionariedade no conteúdo e/ou motivo.
Considerando-se a própria natureza dos institutos de decadência e prescrição, tem-se que a convalidação é competência a ser exercida pela Administração antes de findo o prazo de prescrição da pretensão do terceiro impugnar os vícios dos atos administrativos e do término do prazo para o exercício da autotutela administrativa. Só faz sentido falar em convalidação antes de expirado o prazo de decadência para a Administração rever os seus comportamentos desconformes com o ordenamento e antes de se findar o prazo prescricional para o terceiro prejudicado impugná-los. Depois de findos os prazos decadencial e prescricional, o ato administrativo viciado estabilizou-se pelo decurso do tempo, sendo despicienda qualquer conduta expressa da Administração no sentido de saná-lo. Em outras palavras: se o decurso do tempo sanou os efeitos do vício do ato, desnecessário que a Administração tome providências concretas cujo resultado seria idêntico suprimento.
Quando ainda cabível o ato de convalidação, porquanto não expirado o prazo de decadência e de prescrição, os seus efeitos são retroativos, vale dizer, a correção do vício faz com que ele se exclua desde a origem. A situação criada é aquela que teria ocorrido se jamais a desconformidade com o ordenamento tivesse atingido o ato em questão. Por isto afirma-se que a convalidação tem efeitos ex tunc, retroagindo até o ato viciado para corrigir a inobservância da ordem jurídica.
Nesse contexto, surge clara a natureza constitutiva da convalidação, pois modificará a ordem jurídica suprimindo o vício de um ato administrativo que até então o contaminava. Como o seu resultado final é a preservação do ato, mediante a correção do seu defeito, fica claro o seu caráter positivo, mantida inclusive a eficácia do ato convalidado.
Os atos que podem ser convalidados são aqueles que apresentam falhas com menor potencial gravoso em face do interesse público juridicamente tutelado pelo ordenamento. As falhas que se considera de menor potencial gravoso, à luz da atual teoria das nulidades dos atos administrativos, são os vícios que atingem a forma ou as formalidades, quando não exigidas por lei, nem mesmo essenciais à perfeição do ato, e os vícios de sujeito que atinjam os atos vinculados e os atos discricionários (esta última a única hipótese em que há faculdade e não obrigatoriedade de convalidar). Os atos com vício de conteúdo, finalidade e motivo não ensejam convalidação, em face da gravidade do comprometimento de aspecto vinculado da ordem jurídica. Também não admitem convalidação aqueles atos cujos vícios de forma ou formalidade contrariam expressa exigência normativa ou aspecto essencial à sua perfeição.
Portanto, os atos que podem ser objeto de convalidação são apenas aqueles que apresentam os seguintes vícios: a) incompetência ou incapacidade (obrigatoriedade de convalidar se o ato viciado é vinculado; faculdade de convalidar se o ato viciado é discricionário); b) omissão ou má-execução da forma ou formalidades exigidas pela ordem jurídica ou essenciais à perfeição do ato (obrigatoriedade de convalidar). Além da natureza sanável dos vícios, a convalidação não pode causar prejuízo a terceiros, nem mesmo ao interesse público. O compromisso com a preservação dos interesses sociais é aspecto de que não pode se descurar o agente público, em nenhum momento da sua atuação, seja quando da atividade positiva, seja quando do controle de juridicidade realizado posteriormente. A convalidação, nessa perspectiva, surge como instrumento de aperfeiçoamento da atividade administrativa que, além de regular, cumpre a finalidade pública a se realizar na situação concreta.
3.2. A figura da invalidação
Dentre dessa perspectiva, reconhecem-se situações em que o ato administrativo apresenta vícios graves que não admitem convalidação. Em razão da ilegalidade insanável que o contaminou, o ato deve ser extinto. Tal providência atende aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da supremacia do interesse público. Não se pode deixar permanecer no ordenamento, presumindo-se legítimo, ato que contraria de modo incorrigível o sistema.
Daí definir-se a invalidação como a extinção do ato administrativo que apresenta vício insanável[7], com o objetivo de manter a integridade da ordem jurídica, em estrita conformidade as normas que integram o regime de direito público.
Pode ser sujeito ativo do ato de invalidação tanto a Administração Pública como o Poder Judiciário. Na expressão Administração Pública enquadram-se todos aqueles que exercem a função administrativa, vale dizer, o Executivo, bem como o Legislativo e o Judiciário quando executam a atividade administrativa. Serve-lhes de amparo a autotutela administrativa a qual impõe a todos entes políticos, entidades administrativas e respectivos órgãos o dever de perseguir a juridicidade. Para tanto, necessário, em determinadas circunstâncias, extinguir os atos ilegais cujos vícios mostram-se insanáveis. É irrelevante o fato da sua atuação ocorrer espontaneamente ou mediante provocação de terceiro. Essencial é que se esteja buscando a preservação do regime jurídico administrativo.
Segundo essa compreensão, ao Poder Judiciário é lícito invalidar não só no exercício da função administrativa, mas igualmente quando provocado a prestar a tutela jurisdicional. Com efeito, no exercício da função jurisdicional, impõe-se a extinção do ato que, sujeito a este controle, mostrou-se contaminado de forma incorrigível.
Definido a quem, no ordenamento brasileiro, se reconhece competência para invalidar, à Administração não seria lícito renúncia quanto ao desempenho deste poder-dever. Afinal, a definição de uma competência irrenunciável e inalienável por seus titulares, apesar de legítima a delegação e avocação (se atendidos os respectivos pressupostos) não é congruente com a possibilidade de abdicação.
Especificamente quanto ao seu caráter obrigatório, a imposição, em regra, da invalidação decorria das situações em que o vício insanável a atingir o ato (inviável, pois, sua convalidação). Sendo assim, pode-se indicar como regra geral para essa recente etapa da compreensão da teoria das nulidades dos atos administrativos: não há discricionariedade em invalidar, ou não, um ato administrativo que tem uma falha incorrigível. A extinção do ato é um comportamento vinculado, de exercício obrigatório por quem esteja controlando sua juridicidade.
A única exceção, em que a doutrina reconhecia a faculdade de invalidar, ou não, o ato, limitava-se à hipótese de o vício atingir o sujeito de um ato administrativo discricionário. No caso de um ato discricionário ser praticado por alguém incapaz ou incompetente, haveria discricionariedade em o invalidar, ou não. O entendimento aqui é o de que a providência extintiva depende da escolha livre do agente que, de fato, é aquele capaz e competente para o desempenho da atribuição. Ressalvada esta hipótese excepcional, a regra mantinha-se a de que a Administração deve necessariamente invalidar o ato que apresenta um vício insanável.
Para evitar os riscos de uma atuação autoritária do Estado, comportamento inadmissível à luz da Constituição, tem-se como indispensável que se oportunize, em processo administrativo anterior à invalidação, o contraditório e a ampla defesa. Para tanto, compreendeu-se como imprescindível a comunicação ao terceiro do vício insanável que motiva a intenção pública de extinguir o ato, ensejando-lhe prazo para apresentar defesa e oportunidade de produzir as provas pertinentes diante das especificidades da realidade em questão. Ainda se reconheceu que a decisão final deve analisar os pontos litigiosos sustentados na defesa, os quais se mostrem relevantes para justificar a invalidação, ou não, do ato. Este trâmite é que impede que aqueles que podem ser surpreendidos com o controle de juridicidade da Administração sejam de fato pegos por inesperado, unilateral e coercitivo pronunciamento extintivo de ato anterior.
3.2.1. Efeitos da invalidação: da retroatividade genérica à irretroatividade no caso de invalidação de atos viciados ampliativos de direito, com presunção da boa-fé subjetiva
No tocante aos efeitos do ato de invalidação, certo é que a doutrina clássica lhe atribuía, unissonamente, a natureza retroativa. Assim, a invalidação fulmina o vício insanável desde o início, produzindo efeitos ex tunc. Esta retroatividade terá função de destruir todos os fatos decorrentes do ato viciado e que já deveriam ter se realizado se tivesse sido observada a juridicidade exigida da Administração. Ademais, tem a tarefa de construir, após o ato de invalidação, a situação que deveria ter se tornado concreto, caso não tivesse sido praticado o ato viciado, ora objeto de extinção.
Se, p. ex., um determinado ato da Administração nomeou um candidato aprovado em terceiro lugar em um concurso público, sem que tivesse sido nomeado antes o candidato classificado em segundo lugar, certo é que se está diante de um vício de conteúdo insanável do ato de nomeação. Na hipótese de, alguns meses depois, a Administração assegurar ampla defesa aos interessados e invalidar o ato viciado, não se limitará o controle de legalidade a destruir o resultado da nomeação inconstitucional. Necessário será que a partir de então se construa, o mais próximo possível, a realidade que deveria ter ocorrido se a nomeação ilegal do terceiro colocado não tivesse sido realizada. A partir do ato de invalidação, v.g., considerar-se-á nomeado o segundo colocado desde a data da nomeação em que o terceiro classificado o fora indevidamente. Outrossim, deverá ser contado, para fins de promoção por antiguidade, o tempo em que o segundo colocado não trabalhou, por ter sido desrespeitado o seu direito de ser nomeado segundo a ordem de classificação. Malgrado divergência sobre a matéria[8], ainda se vislumbra o direito à indenização, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, pelos prejuízos materiais sofridos. Em razão de não ter trabalhado, não faz jus ao pagamento da remuneração pelo exercício do cargo. Mas, embora não faça jus à remuneração, uma vez que esta é contraprestação pelo trabalho realizado, terá direito ao ressarcimento pelos prejuízos sofridos, não se ignorando prevalência de julgados em sentido contrário.
A retroatividade, neste caso, além de destruir a nomeação inconstitucional do terceiro colocado, é capaz de construir, o mais próximo possível, a realidade jurídico-funcional da qual de veria o segundo classificado ter usufruído, se a ilegalidade insanável não tivesse sido praticada pela Administração.
A eficácia retroativa destrutiva e construtiva vinha sendo pacificamente proclamada tanto quando o ato a ser invalidado restringia direitos daqueles que se relacionam com a Administração como quando o ato viciado ampliava, indevidamente, o patrimônio do terceiro. Independentemente de o ato viciado, objeto de extinção, ser ampliativo ou restritivo do direito do terceiro, incidia a eficácia desconstitutiva do ato de invalidação, ou seja, a invalidação operava-se retroativamente, para destruir e construir de modo a recompor a juridicidade.
Destarte, os efeitos ex tunc da invalidação atingiriam atos ampliativos e restritivos de direito. Para tanto, bastaria que o vício tivesse natureza insanável e que fossem observados os limites legais, como a necessidade de observar ampla defesa e contraditório. Ainda hoje encontram-se decisões administrativas e dos Tribunais neste sentido.[9]
Denota-se, contudo, que ganhou espaço, a partir de fins do século ,XX posição doutrinária que passou a entender de modo diverso. O fundamento da mudança de paradigma tem sido o princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Tais normas implícitas na Constituição da República não estariam integralmente satisfeitas apenas com a observância de processo administrativo prévio ao ato de invalidação. Isto porque não seria suficiente, para sua preservação, outorgar ao terceiro atingido pela autotutela apenas o direito de se pronunciar antes de ser invalidada a situação que apresenta defeito incorrigível. Seria necessário discutir a própria amplitude dos efeitos da invalidação.
Entende-se, segundo este novo posicionamento, que a segurança jurídica e a boa-fé objetiva impedem que se atribua, como regra, em todos os casos, eficácia retroativa ao ato de invalidação. A invalidação do ato administrativo só teria efeitos ex tunc na hipótese de extinguir atos restritivos de direitos. Se atingisse atos ampliativos do direito de terceiros, seus efeitos seriam apenas ex nunc. Em outras palavras, só teria eficácia retroativa a invalidação que atinja ato viciado restritivo de direito.
Para a incidência desta teoria, foi frisada a importância da boa-fé do beneficiário do ato ilegal. Se o terceiro, beneficiado por um ato ampliativo ilegal, estiver de boa-fé, o ato de invalidação não tem eficácia retroativa (a invalidação produz efeitos ex nunc)[10]. Se, entretanto, o terceiro estiver de má-fé, a invalidação retroage (a invalidação produz efeitos ex tunc). Diante da má-fé, portanto, a eficácia é sempre retroativa, tornando-se até mesmo irrelevante a natureza restritiva ou ampliativa do ato viciado.
Cumpre observar na realidade administrativa as consequências do novo entendimento: a invalidação não teria efeitos retroativos quando incidente sobre ato ampliativo de direito, se o beneficiário da ilegalidade insanável estiver de boa-fé; a invalidação tem efeitos retroativos se atinge ato restritivo de direito ou se o terceiro beneficiado pelo vício insanável está de má-fé.
Imaginando-se uma hipótese em que um servidor faça jus ao recebimento de uma vantagem remuneratória de R$ 100,00 e a Administração lhe defira somente R$ 70,00, tem-se clara a natureza restritiva do ato administrativo viciado, pois o terceiro deixa de receber mensalmente R$ 30,00, com flagrante violação do ordenamento. Se, após três meses, mediante regular autotutela administrativa, o Poder Público invalida o ato que indeferiu vantagem remuneratória a menor ao servidor, o ato de invalidação teria efeito retroativo, pelo que a Administração deve pagar ao servidor os R$ 30,00 recusados indevidamente durante três meses, num total de R$ 90,00.
Já no caso de o mesmo servidor que faz jus a R$ 100,00 ter a si deferida vantagem no montante de R$ 120,00, recebendo por três meses, como acréscimo indevido e ampliação ilegal do seu patrimônio, o valor R$ 20,00, não se reconhece eficácia retroativa à invalidação, se ausente prova de má-fé do servidor. Afinal, segundo este raciocínio, não se pode ignorar a máxima segundo a qual presume-se a boa-fé, sendo necessário prova induvidosa da má-fé para se a considerar presente. Se não houver prova clara da má-fé, o servidor não estará obrigado a devolver os R$ 20,00 que recebeu a mais durante três meses da Administração, pois não se atribui à invalidação eficácia retroativa. Consequentemente, a partir do ato invalidatório ele passará a receber R$ 100,00 (efeito ex nunc), mas não se submeterá à eficácia construtiva retroativa da invalidação (não há efeitos ex tunc) e, portanto, não estará obrigado a devolver os R$ 60,00 que recebeu a maior.
Observe-se que a boa-fé como um elemento definidor da retroatividade, ou não, da invalidação alinha-se com o foco recente que a jurisprudência tem fixado na confiança legítima como fundamento à estabilização de atos administrativos viciados. Se quem se relaciona com a Administração está, em princípio, obrigado a confiar na legitimidade dos seus comportamentos, o que resulta da própria presunção de juridicidade dos atos administrativos, não se mostra legítimo frustrar tal expectativa, mormente em se considerando a presunção de que cidadãos, servidores e contratados atuam de boa-fé em face do Poder Público. Se a boa-fé deles é presumida, se são obrigados a confiar no Estado, não é legítimo lhes frustrar a expectativa de regularidade, o que implicaria estabilização, em alguns casos para impedir a retroatividade dos efeitos da nulidade, em outros até mesmo para impedir a invalidação, mesmo antes de decorrido o prazo decadencial de autotutela administrativa[11].
A crítica pessoal que se faz à limitação absoluta da retroatividade dos efeitos da invalidação, sem sequer se cogitar da necessidade de se motivar a modulação dos efeitos da decretação de nulidade em cada caso concreto, é que, em última instância, o que se sacrifica é o interesse público primário, parâmetro hermenêutico basilar do Direito Administrativo. A sociedade, para ver a juridicidade preservada, obriga-se a pagar, por meio do Estado, aquilo que é devido ao terceiro prejudicado com um vício administrativo insanável. Não há dúvida que esta é uma premissa intocável e irrepreensível do Estado Democrático de Direito. O que não se compreende é porque esta mesma sociedade, em contrapartida, passou a lhe ter recusado, abstrata e aprioristicamente, o direito a ver devolvido aquilo que a Administração, em conduta viciada de modo incorrigível à luz do ordenamento, pagou a um terceiro, beneficiado indevidamente por grave ilegalidade, tendo em vista que não se logrou comprovar a presença de má-fé e do ponto de vista subjetivo (o animus que internamente tem o beneficiado pelo ato viciado).
Neste ponto, cumpre reconhecer a dificuldade de colacionar elementos que formem um juízo seguro de eventual má-fé daquele que se relaciona com a Administração, principalmente subjetiva. Isso porque, no Direito Administrativo pátrio, ainda é arraigada a compreensão da má-fé sob o prisma exclusivamente subjetivo. Assim, investiga-se somente o aspecto anímico do agente, vale dizer, a sua intenção. São raríssimas as situações em que elementos desta má-fé subjetiva são evidenciados de forma coesa e convincente. Na prática, a regra passa a ser que, se o ato viciado é restritivo de direito, a invalidação deixa incólume todas as consequências da ilegalidade até o momento da extinção subsequente, com flagrante prejuízo dos interesses, inclusive econômicos, da sociedade.
Não se ignora que, no Direito Administrativo, ainda se vive sob a ótica da vitimização daquele que se relaciona com o Estado, seja ele um servidor, um cidadão ou um contratado, em razão de justificadas razões históricas. No entanto, é preciso reconhecer que, em pleno século XXI, não cabe confundir Estado com os governos que transitoriamente exercem o poder. Cabe ao Estado, por meio da Administração, concretizar a proteção dos interesses de todos, mediante a satisfação das necessidades sociais. Não faz sentido entender como “vítima” da sociedade um dos seus membros que se beneficiou, ilegalmente, de um ato que tem um vício insanável à luz das normas que vinculam, igualmente, todas as pessoas, físicas e jurídicas, públicas e privadas.[12]
Com a devida vênia dos posicionamentos em contrário, não se compreende que boa-fé e segurança jurídica são princípios aptos a excluírem abstrata e aprioristicamente a retroatividade da invalidação de atos viciados restritivos de direito, em todos os casos, mormente em se considerando os efeitos da presunção de boa-fé e a dificuldade de se comprovar a má-fé na espécie. A isso se acresce a inviabilidade de se outorgar à segurança jurídica força coercitiva absoluta e com primazia em face das demais normas principiológicas.
Na verdade, o princípio da segurança jurídica e a boa-fé têm, em regra, a sua força coercitiva respeitada com a outorga da ampla defesa e contraditório, em processo administrativo que anteceda o ato de invalidação[13]. Não há qualquer repercussão direta na restrição da retroatividade que é inerente ao ato de invalidar comportamento público anterior que apresenta defeito incorrigível.
Cumprida a exigência de processo administrativo anterior à invalidação, não se pode afirmar que o terceiro viu-se surpreendido com frustração abrupta da expectativa legítima na presunção de legitimidade do ato viciado, o que preserva a segurança jurídica. Ademais, tem-se a transparência da decisão administrativa, em um processo dialético que deixa clara a boa-fé pública. Por fim, é fundamental assegurar a efetiva supremacia do interesse público primário, ou seja, o interesse de toda a sociedade, que não admite sacrifício para o benefício isolado de um de seus membros, contrariamente àquilo que o sistema lhe outorgou.
Não se pode admitir que um vício grave da Administração sacrifique sempre toda a sociedade em favor de um indivíduo que termine “premiado” com uma ilegalidade. Impedir a retroatividade da invalidação de ato restritivo de direito como regra significa transformar vício administrativo em sorte do terceiro que se relaciona com o Estado, deixando a sociedade refém duas vezes: primeiro, da incompetência, da desonestidade ou da inabilidade da Administração ao cumprir a ordem jurídica; segundo, da impossibilidade de recompor o patrimônio, tornando definitivo o benefício que jamais o terceiro poderia ter obtido, em flagrante comprometimento da juridicidade, da razoabilidade e da supremacia do interesse público.
Por estas razões, não se aquiesce com a tendência já incorporada por boa parte da jurisprudência e quase uníssona na doutrina a propósito da retroatividade do ato de invalidação. Entende-se que os efeitos da invalidação são, em qualquer caso, ex tunc. Em outras palavras, a invalidação retroage quando extingue ato viciado restritivo de direito e quando atinge ato viciado ampliativo de direito. A segurança jurídica e a boa-fé serão asseguradas, sem qualquer prejuízo, em razão do processo administrativo que se exige previamente ao controle de legalidade na quase totalidade dos casos. O importante, para o aperfeiçoamento da ação estatal, é que na ponderação dos sacrifícios necessários, seja eleita a alternativa que menor custos traga ao regime jurídico administrativo como um todo. Outrossim, cumpre considerar que excluir a regra da retroatividade exige uma modulação que atente especificamente para eventuais peculiaridades da situação concreta que justifique admitir-se extraordinariamente o prejuízo ao patrimônio público, suportado por toda a sociedade.
4. A teoria das nulidades dos atos administrativos em transformação: o caminho até a LINDB
A despeito de algumas divergências sobre a invalidação e a convalidação dos atos administrativos, é certo que nas duas últimas décadas a maior parte dos operadores do direito definiu a licitude, ou não, de um dado comportamento a partir da natureza do vício encontrado:
| Elementos/Pressupostos | Vícios | Efeitos |
| Conteúdo
Lícito, Possível, Certo, Moral |
Proibido por lei
Diverso do permitido na lei Impossível Incerto |
Dever de Invalidar (impossível convalidação)
(José dos Santos Carvalho Filho: convalidável qdo o ato determina mais de uma providência: viável suprimir / alterar uma e aproveitar o ato quanto às demais) |
| Forma
Regra: escrita (pcpio da solenidade)(paralelismo/silêncio) |
Omissão
Má-Execução |
1) Se a lei exige ou se a finalidade só se alcança c/ a forma: dever de invalidar
2) Se não é essencial a forma: dever de convalidar |
| Sujeito
Capacidade Competência (inderrogável e improrrogável) |
Incapacidade: absoluta e relativa +vícios resultantes de erro, dolo, coação, simulação e fraude
Incompetência:- usurpação de função – excesso de poder – função de fato (impedimento/ suspeição) |
Se o ato é vinculado: dever de convalidar
Se o ato é discricionário: faculdade de convalidar |
| Motivo
Existente Verdadeiro Corretamente qualificado |
Fato inexiste
Fato existe, mas: – foi praticado por terceiro; – desproporcional com a medida – cercado de circunstâncias especiais- contradiz dispositivo legal |
Dever de invalidar (impossível convalidar) |
| Finalidade
Sentido amplo: int. público Sentido restrito: resultado específico do ato |
Desvio de Poder | Dever de Invalidar (impossível convalidar) |
Sob essa perspectiva, os atos nulos (ou relativamente insanáveis – Weida Zancaner, ou inconvalidáveis – Carlos Ari Sundfeld, ou absolutamente inválidos, para aqueles que, como Antônio Carlos Cintra do Amaral, consideram descabida a nomenclatura do Direito Civil – nulidade/anulabilidade) seriam: a) os que a lei assim os declare; b) os atos em que é racionalmente impossível a convalidação, pois se produzidos novamente, seria reproduzida a invalidade anterior.
Nesse contexto, entende-se imprescindível que o ato nulo seja invalidado. A invalidação recebe a designação específica de decretação de nulidade por parte da doutrina. Trata-se apenas da extinção de ato administrativo contaminado por vício insanável, com efeitos “ex tunc” (ressalvados os efeitos “ex nunc”, para parte da doutrina, em se tratando de vícios dos atos ampliativos, se ausente prova da má-fé).
Os atos anuláveis (ou relativamente sanáveis – Weida Zancaner, convalidáveis – Carlos Ari Sundfeld, ou relativamente inválidos, para aqueles que, como Antônio Carlos Cintra do Amaral, consideram descabida a nomenclatura do Direito Civil – nulidade/anulabilidade) seriam: a) os que a lei assim os declare; b) os que podem ser repraticados sem vício.
Sob esse prisma, a invalidação dos atos anuláveis, que ocorre quando não realizada a convalidação de um ato com vício em princípio sanável, recebe a designação de anulação. Trata-se, pois, da extinção de atos administrativos com vícios sanáveis, cuja convalidação não se realizou diante das especificidades dos defeitos apresentados diante de determinada realidade administrativa. Também à anulação reconhece-se o potencial de impedir as consequências inerentes à presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Nesse contexto, já se identificavam algumas divergências na compreensão dos vícios e das suas consequências, além de inconsistências quanto a outras categorias jurídicas (existem atos administrativos inexistentes? e atos administrativos meramente irregulares? e se um vício sanável – e, portanto, convalidável – for impugnado por um terceiro? ainda assim é possível convalidar?). Recentemente, outros questionamentos surgiram com a edição da LINDB, principalmente em relação às normas dos artigos 20 a 24 inseridas pela Lei Federal nº 13.655/2018.
4.1. As repercussões do artigo 22 Lei Federal nº 13.655/18 na caracterização do vício/ilicitude
Alguns preceitos introduzidos pela Lei Federal nº 13.655 na agora denominada “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (LINDB) repercutem diretamente na própria caracterização de um ato administrativo como viciado, ou não. Trata-se de normas que definem quando um comportamento estatal pode ser considerado ilícito e quando não há que se falar em desconformidade com o direito.
Observe-se para esse momento preliminar, relativo à identificação da presença de um vício capaz de contaminar um ato administrativo, o artigo 22 da LINDB:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.”
Especificamente quanto ao transcrito dispositivo, é certo que boa parte das desconformidades dos comportamentos da Administração Pública decorrem de obstáculos inerentes à atividade desenvolvida e das dificuldades reais enfrentadas pelos limites da infraestrutura estatal, como é o caso da insuficiência no quadro de pessoal, da crise econômica a comprometer a disponibilidade orçamentária indispensável ao cumprimento adequado de determinados deveres públicos, bem como da ausência de bens móveis e imóveis necessários à regularidade da atividade administrativa. É manifesto que a intenção do dispositivo é não permitir que tais aspectos sejam ignorados e que, ao se interpretar as normas que deveriam ter sido cumpridas na atividade da gestão pública, caracterizem-se como ilícitas atividades que não poderiam se realizar de outro modo, atentando-se para a realidade da estrutura do Estado.
Corrobora tal entendimento o próprio § 1º do referido artigo 22 segundo o qual as circunstâncias práticas que limitaram, condicionaram ou determinaram uma ação do agente de uma forma específica não podem ser desconsideradas exatamente quando se for analisar e decidir sobre a “regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa”. Vale dizer, quando se for classificar algo como lícito ou ilícito, válido ou inválido, é indispensável indicar os elementos da realidade que circunscreveram o comportamento público. A intenção é que não se decida que algo é ilícito, contrário ao Direito, com a invalidação daí decorrente, se no mundo real as circunstâncias práticas indicavam ser aquele o comportamento possível e adequado.
Destaque-se que o caput e o § 1º do artigo 22 da LINDB impõem uma obrigação àquele que, posteriormente, realiza o controle de legalidade do ato que foi praticado antes: no momento em que for se pronunciar sobre eventual desconformidade entre a ação administrativa e o direito vigente, atente para a realidade que circundava o administrador público. A ideia é que DEPOIS não se faça uma análise abstrata e completamente divorciada dos limites do mundo real em que o gestor público atuou ANTES. Para quem realiza controle de legalidade, o comando legal é não ser um “profeta do acontecido” que ignore as condições que restringiam as possibilidades de escolha e impediam uma ação mais eficiente à época em que exercida a competência.
Tem-se, pois, repercussão direta desse preceito na caracterização dos vícios dos atos administrativos. E a principal consequência é: ao se colocar alguma ilicitude para definição, analise previamente à caracterização do vício, os seguintes aspectos: a) quais os obstáculos e as dificuldades reais do gestor: quais as exigências das políticas públicas a cargo do administrador? b) como atuar da melhor forma possível naquelas condições sem prejuízo dos direitos dos administrados? c) havia circunstâncias práticas que impunham, limitavam ou condicionavam a ação do agente?
Não há dúvida que a lei se vale de conceitos jurídicos indeterminados e, mais, não estabelece em que medida estes conceitos servem para excluir, ou não, os efeitos de desconformidade formal entre a norma e a ação administrativa objetiva. Também não é claro como compatibilizar eventual reconhecimento de dificuldades reais graves à época da conduta da Administração Pública, consequências práticas limitadoras significativas e, simultaneamente, a possibilidade de prejuízo do direito dos administrados (tanto na hipótese de se reconhecer a ilicitude e invalidar o ato, como no caso de se excluir a presença do vício, mantendo o comportamento adotado pelo gestor). Igualmente há omissão em indicar o mecanismo de ponderar tais limites e dificuldades anteriores com a vinculação decorrente de obrigações públicas previstas no ordenamento e de direitos fundamentais dos cidadãos.
Registre-se que não se identifica as dificuldades que resultam das omissões apontadas como específicas da LINDB. Numa perspectiva ampla de juridicidade administrativa (e não de mera legalidade estrita), em um processo hermenêutico em que se reconstrói o significado da norma diante de cada realidade específica (sem a ilusão de um mecanismo de subsunção imparcial, matemático e objetivo), já era inevitável se deparar com a inviabilidade de trabalhar com significados possíveis fixos e rígidos, a partir de textos normativos interpretados de modo inflexível. A ponderação normativa, com uso da proporcionalidade como técnica de solução de conflito de interesses em casos difíceis, atentando-se às especificidades da realidade administrativa, mostrava-se como desafio imediato a ser enfrentado por qualquer operador do direito.
O que a LINDB deixa evidente é, em primeiro plano, a dificuldade que ainda temos, como intérpretes do Direito, de aceitar a complexidade e limites da linguagem, a exigir sempre a reconstrução do texto diante de cada realidade. Cabe cogitar que qualquer intérprete reconstrói sentidos, tendo em vista significados incorporados ao uso linguístico, a partir de um rastro de significantes da linguagem, em um determinado contexto fático em que se imbricam. Humberto Ávila já escrevia “interpretar é construir a partir de algo, por isso significa reconstruir: a uma, porque utiliza como ponto de partida os textos normativos, que oferecem limites à construção de sentidos; a duas, porque manipula a linguagem, à qual são incorporados núcleos de sentidos, que são, por assim dizer, constituídos pelo uso, e preexistem ao processo interpretativo individual”.[14] O francês Jacques Derrida, ao tratar desse complexo processo, afirmava necessário “confirmar seu valor, por um ato de interpretação reinstaurador, como se a lei não existisse anteriormente, como se o juiz a inventasse ele mesmo em cada caso”, construindo um “julgamento novamente fresco”, o qual reafirma, re-justifica e reinventa a norma em cada caso.[15] Nessa perspectiva, não tem como analisar um comportamento administrativo apenas com uma visão abstrata do seu núcleo em face de uma previsão do ordenamento; é preciso atentar para os aspectos que circundam o comportamento desde a linguagem até os elementos de infraestrutura concreta que limitam a realização da competência do Estado. À obviedade, nesse processo, entre o direito administrativo da Constituição, das leis e dos regulamentos e o direito administrativo concretizado não pode haver distanciamento em face da própria realidade a que ele se destina.
O que a LINDB parece ter feito é impedir, definitivamente, que em pleno século XXI se façam juízos teóricos, comprometidos somente com a idealização genérica do texto normativo, numa eternização inconveniente do fetichismo da lei, incompatível com os desafios enfrentados pela Ciência Jurídica em um cotidiano de atuação cada vez mais complexo, a exigir respostas adequadas e eficientes. Imaginar o direito como um sistema pleno, lógico e integrado por normas abstratas que sempre se afiguram coerentes e aprioristicamente harmônicas, exequíveis fácil e matematicamente diante de cada realidade, é mais do que uma ilusão; trata-se de verdadeira arrogância inexequível, com resultados prejudiciais ao interesse público. Especialmente em se tratando de direito administrativo, é preciso considerar a complexidade das demandas sociais e dos mecanismos necessários ao próprio Estado para realizar o bem comum, além de atentar às peculiaridades do caso concreto. Como assevera Jacques Derrida, “Cada caso é um caso, cada decisão é diferente e requer uma interpretação absolutamente única”, sendo impossível que esta seja sempre garantida por uma regra codificada. Se tal ocorresse, o aplicador da norma seria “uma máquina de calcular; o que às vezes acontece, o que acontece sempre em parte, segundo uma parasitagem irredutível pela mecânica ou pela técnica que introduz a iterabilidade necessária dos julgamentos; mas, nessa medida, não se dirá do juiz que ele é puramente justo, livre e responsável”.[16]
O problema diante desse contexto, evidenciado de forma maximizada pela LINDB, é que considerar os fatos, os elementos concretos da realidade a que a norma se destina, não é tarefa fácil, nem mesmo habitualmente estudada pelos especialistas jurídicos. Trata-se de uma mudança significativa de paradigma e, mais grave, uma transformação que ainda não tem os seus próprios parâmetros definidos, com segurança, pela Ciência. Ainda não se tem definido como e em que medida cogitar das mazelas da Administração, as quais variam desde a falta de tempo para o exercício das tarefas mais basilares ao número insuficiente de servidores, passando pelo desperdício, malversação, corrupção e omissão dos próprios administradores e dos particulares que se relacionam com o Estado. Até que ponto cada uma dessas possibilidades, presente em dada realidade, é capaz de definir algo como caracterizador de ilicitude ou dela excludente, ainda não se sabe. E quando há uma simultaneidade de circunstâncias concretas que apontem para direções diversas (algumas no rumo da legalidade e outras no sentido da invalidação)? Quais circunstâncias ponderar? Como ponderá-las em face das leis e da Constituição, dos direitos dos administrados e dos deveres de agir do Poder Público correspondentes aos direitos fundamentais dos cidadãos?
Diante das indagações, para evitar equívocos na interpretação dessa mera partilha de dúvidas pertinentes, repita-se: Nenhum vicio existe em impor que a hermenêutica posterior se dê com atenção a realidade presente momento em que as competências administrativas exerceram-se. Não há problema em fixar regras que adotam o parâmetro da proporcionalidade quanto ao poder sancionatório do Estado. É razoável impedir que se qualifique como “ilícito” de qualquer natureza (improbidade, disciplinar ou outra esfera) algo que, no momento da atividade administrativa, não admitia decisão diversa, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo gestor. De fato, não é raro que atos de controle realizados anos depois do comportamento público considerem alternativas que, no momento da ação do Estado, não existiam, nem eram cogitáveis. Evitar o julgamento impiedoso, no futuro, de atividades que, quando realizadas, sujeitavam-se limites reais que obstaculizavam outras hipóteses de ação é lúcido e jurídico, numa perspectiva ampla de juridicidade administrativa. A LINDB prescreve exatamente que a realidade a se considerar quando da definição da regularidade ou ilicitude do comportamento do Estado é a do momento em que se atuou e não a do futuro, a época do controle posterior. Afigura-se claramente positivo colocar tal necessidade como um desafio a ser enfrentado por todo aquele que tem por competência fazer juízo de licitude ou desconformidade com o direito em relação a comportamentos anteriores. Ser positivo e necessário não equivale, entretanto, a ser fácil, visto se tratar de uma tarefa hermenêutica das mais densas e complexas.
A esse respeito, a doutrina já vem assentando o objetivo da LINDB de introduzir uma boa dose de pragmatismo e contextualização na interpretação e operação das normas de direito público. Nesse sentido, Eduardo Jordão adverte que, tradicionalmente, idealizam-se condições materiais, factuais e objetivas para que a administração pública realize os ambiciosos projetos de direito público nacional: no momento da consagração e enunciação dos objetivos e no momento de cobrança dos agentes públicos responsáveis por implementá-los. Daí resultam consequências que o professor baiano adverte serem nefastas: pressão grande ao gestor, que acaba sendo responsabilizado por ineficiências ou limitações que fogem ao controle. Tais problemas resultam da própria supervalorização do direito de que resulta considerar bacharéis como oráculos capazes de desvelar a determinação escondida e especifica do ordenamento, eternizando-se uma cultura jurídica idealizada e irrealista. Segundo Jordão, “O projeto quer colocar no centro das preocupações do direito administrativo estas limitações materiais e os contextos fáticos que informam a implementação das normas de direito.” De fato, trata-se de uma forma mais realista de interpretar e atuar, exigindo contextualização na hermenêutica do direito, anulação dos atos, aplicação de sanções e responsabilização dos gestores. O argumento é o de que, na busca do “primado da realidade”, “se o controlador quer se colocar na posição de tomar ou substituir decisões administrativas, é preciso que enfrente também os ônus que o administrador enfrenta.” Para tanto, “O que o projeto requer é que o controlador se imagine na situação do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades.”[17]
Igualmente chamando atenção sobre o fato de se buscar afastar uma interpretação estática que não atenta ao distanciamento temporal, Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas denunciam “Juízos que, em razão da morosidade própria à burocracia, são formados sempre, retrospectivamente, muita vez anos após a conduta. O distanciamento temporal, contudo, turva a avaliação, propicia o seu enviesamento. Oblitera circunstâncias que não podem ser desconsideradas pelos órgãos de controle.” Observam que “É, nesse quadrante, que passa a vigorar o art. 22 da Lei nº 13.655/2018” que incorpora o pragmatismo ao âmbito jurídico: “O caput do art. 22 impõe um parâmetro concreto para a avaliação de condutas de modo que o controlador, na avaliação de uma conduta e de sua adstrição ao direito não se limite a interpretar a norma a partir de seus parâmetros semânticos e de valores pessoais e nos quadrantes deônticos abstratos, mas considerando o contexto fático em que a conduta foi ou teria que ser praticada e os quadrantes mais amplos das políticas públicas (o que envolve não só o dever de atender às demandas da sociedade, mas os instrumentos disponíveis e a realidade orçamentária”.[18]
Nesse contexto, deve-se atentar para a cautela requerida de se afastar a incidência dos novos parâmetros como um biombo capaz de blindar a atividade administrativa de qualquer controle repressivo “a posteriori”, tornando as escolhas anteriores, não importa o quão contaminadas sejam, em decisões de efeitos perenes, incapazes de atrair qualquer rechacamento jurídico eficaz. Exigir que sejam consideradas dificuldades, limites, restrições, circunstâncias práticas da época da atividade administrativa é evolução do sistema normativo, merecendo aplausos a regra do artigo 22 da LINDB quanto a esse aspecto. No entanto, decretar como regra nulidade de ato de controle (que identificou vício em ato administrativo anterior) por não ter se cumprido adequadamente tal mister é procedimento tão arriscado e danoso como uma interpretação abstrata, intelectualmente limitada e rígida dos textos legais. Isso porque, ao contrário do que se imagina à primeira vista, tornar absoluto (no sentido de preservar um ato) o fato de o gestor ter enfrentado uma dificuldade ou a circunstância de o controlador não ter atentado para as limitações reais do agente público pode significar fazer retornar ao sistema jurídico eventuais ilegalidades anteriores, afastando punições necessárias a preservação da juridicidade. Isso pode se mostrar alternativa pior à proteção do interesse público primário (ou seja, aos cidadãos membros da sociedade) do que o erro no dever de motivar de quem invalidou sem atentar para as exigências do caput e do § 1º do artigo 22. Insiste-se quanto a necessidade de se ponderar, em casos difíceis dessa natureza, qual a interpretação preservará o sistema jurídico com menor restrição ao núcleo dos interesses e direitos presentes, sem olvidar da perspectiva coletiva a orientar a decisão no caso.
Já se anuncia na doutrina mais recente preocupações semelhantes na defesa de que a Lei Federal nº 13.655/18 seja integrada por uma interpretação que assegure uma vigência compatível com o texto constitucional. Isso para que atos violadores de princípios não estejam sujeitos à validação, independentemente das justificativas exaradas, sendo inaceitável justificar, por meio de lei que remete a expressões desprovidas de conteúdo semântico preciso, condutas próprias de atos nulos ou inexistentes. Assim escreve Fábio Henrique Falcone Garcia, advertindo que, nestes casos, o intérprete deverá reconhecer a invalidação; afinal, interesses gerais devem ser compreendidos como interesses públicos ou afetos à realização dos princípios constitucionais da Administração Pública. Daí ser necessário o dever argumentativo de ponderação, sem que daí exsurjam hipóteses de irresponsabilidade administrativa pela prática de ilícitos ou de convalidação de atos nulos ou inexistentes. Questiona o autor: “Poderiam os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (CF/88), ser subjugados em um contexto prático desfavorável? Haveria meios de se convolar um ato ilícito, por violação de princípio, em ato válido? Mais que isso, como compatibilizar o dever hermenêutico com a teoria da invalidade de atos administrativos, notadamente quando nulos ou inexistentes? Fruto de redação açodada, a novel disposição aponta para interesses diversos da segurança jurídica e da consagração de valores positivados.” É clara a sua preocupação com a percepção de que o direito público, especialmente, serve à dominação política, fornecendo legitimação por meio da substituição da noção de arbítrio do titular do poder político pelo signo de uma segurança jurídica semanticamente organizada em torno da noção de isonomia derivada de legalidade. Adverte Garcia que a segurança jurídica veiculada pela reforma da LINDB atende preponderantemente ao interesse do gestor, e, ainda assim, de forma deficitária, pois dá azo a decisões conflitantes e à perda da racionalidade argumentativa do processo decisório. Vislumbra que o direito deixará de oferecer a prestação legitimatória da política e corre o risco de ser reconhecido como um repositório de decisões arbitrárias, o que atrai não só “insegurança jurídica, mas permeabilidade da esfera jurídica a pressões que, do ponto de vista sistêmico, teriam de estar afastadas do âmbito de análise jurisdicional, sob pena de comprometimento da imparcialidade, outra pedra de toque da legitimação do direito como domínio cultural autônomo.”[19]
Na tentativa de evitar tais óbices, doutrina especializada vem indicando a pertinência de uma perspectiva procedimento na aplicação do novo ordenamento. Para tanto, o gestor público deverá apresentar à sociedade e aos controladores o contexto em que tomou a decisão, inclusive quanto as alternativas que estavam à disposição e as razões das opções realizadas. Reconhece-se ser benéfico que deixe claras as dúvidas que teve, sendo certo que a avaliação poderia ser mais realista e com mais informação de modo a facilitar o controle futuro. Já quanto aos controladores, aponta-se a necessidade de se envolverem num diálogo com o gestor, com atenção às dificuldades vivenciadas pelo último. “Caso estas dificuldades não tenham sido explicitadas na motivação do ato – ou caso se trate do controle de uma suposta omissão, caberia ao controlador requerê-las do gestor, para fins de aplicar adequadamente o controle.” Nesse contexto, admitem-se obstáculos e dificuldades não adstritos aos mencionados pelo gestor e/ou que tenham sido trazidos ao controlador o qual pode adicionar circunstâncias conhecidas que possam ter impactado e não foram elencadas e, ainda, desconsiderar dificuldade não julgada relevante.[20]
O que parcela responsável da doutrina vem assentando é que a LINDB não criou um salvo conduto para o gestor, a quem bastaria mencionar dificuldades para ver-se livre do controle sobre seus atos. Como escreve Eduardo Jordão, a LINDB apenas exigiu a “consideração” destas dificuldades. A última palavra sobre a validade do ato segue sendo do controlador. “Afora isso, só caberá aos interessados, quando possível, recorrer de decisões de controladores que não tenham dado a atenção adequada a estas circunstâncias. A má operacionalização, portanto, pode esvaziar de utilidade o dispositivo legal. Este é o limite de balizas textuais e interpretativas.”[21]
Além do risco de esvaziamento das novas regras, é certo que um acirramento no consequencialismo que lhe serviu de fundamento pode acarretar uma enxurrada de ilegalidades de atos de controle, em especial invalidações de atos administrativos viciados. Daí a importância de incorporar uma nova lógica que, além da juridicidade, exige do operador do direito considerar as repercussões da realidade em que o administrador público atuou. É nessa perspectiva que Phillip Gil França adverte para o fato de o gestor público “precisar ter em mente, de forma constante, quais serão os reflexos jurídicos e fáticos de sua responsável atuação em nome do Estado, para que sua atividade, efetivamente, alcance a realização do desenvolvimento estatal esperado.” Também os controladores precisam ter em mente esse novo cenário hermenêutico “porque, com o advento da mencionada atualização normativa da LINDB, passa a ser dever dos respectivos órgãos controladores das atividades estatais prontamente estimarem e objetivamente projetarem qual efeito prático e jurídico – negativo ou positivo – prepondera frente à realização de atividades estatais voltadas à promoção de um determinado (ou determinável) interesse público”, uma tarefa que “demanda, sem dúvida, o dispêndio de mais energia e da aplicação de uma racionalidade criativa do operador do Direito. (…) Entretanto, mesmo que da realização do Dirieto, a partir da nova hermenêutica normatizada pela atualizada LINDB, demande maiores esforços dos controladores da atividade estatal, não resta outra opção ao gestor público senão a adaptação ao novo cenário jurídico estabelecido”.[22]
Na tentativa de orientar a racionalidade nesse novo cenário e de evitar a aplicação equivocada do artigo 22 da LINDB, de modo a impedir que invalidações que não se justificam diante de realidades administrativas específicas sejam substituídas juízos de licitude diante de graves vícios (até mesmo inconstitucionalidades), doutrinadores vêm buscando indicar elementos objetivos que orientem e que garantam a incidência segura do preceito. Assim se verifica, dentre os enunciados do IBDA sobre a LINDB, a enumeração de critérios que explicitem o que são “dificuldades reais”, como as considerar em cada contexto e como respeitar os juízos técnicos feitos previamente:
“11. Na expressão ‘dificuldades reais’ constante do art. 22 da LINDB estão compreendidas carências materiais, deficiências estruturais, físicas, orçamentárias, temporais, de recursos humanos (incluída a qualificação dos agentes) e as circunstâncias jurídicas complexas, a exemplo da atecnia da legislação, as quais não podem paralisar o gestor.
- No exercício da atividade de controle, a análise dos obstáculos e dificuldades reais do gestor, nos termos do art.22 da LINDB, deve ser feita também mediante a utilização de critérios jurídicos, sem interpretações pautadas em mera subjetividade.
- A competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa é do gestor, não do controlador. O ônus argumentativo da ação controladora que imputa irregularidade ou ilegalidade à conduta é do controlador, estabelecendo-se diálogo necessário e completo com as razões aduzidas pelo gestor.”
Se quem pratica os atos administrativos enumerar os limites concretos que enfrenta e o controlador observar os parâmetros que definem sua competência, ter-se-á maior chance de se atingir objetivo basilar: preservação da legalidade sem majoração da insegurança jurídica. Anuncia-se, aqui, o respeito àqueles que possuem mais acurada capacidade institucional para fazer juízos técnico-administrativos diante da realidade, o que nos coloca diante da chamada “teoria da deferência”, bem como da “doutrina Chevron” do direito norte-americano.
Entre nós, já se reconhece que a capacidade institucional envolve a determinação de qual Poder está mais habilitado a produzir melhor decisão em determinada matéria, devendo ser sopesada de maneira criteriosa, de modo a reconhecer que ao órgão originário do Executivo a aptidão especial que o torna melhor equipado para decidir determinadas questões fáticas. Nessa porfia, a deferência para centros de decisão de qualidade a partir das capacidades das instituições mostra-se como um ideal a se buscar: se houve um processo administrativo e uma fundamentação adequada para a Administração escolher uma, dentre várias interpretações plausíveis do ato normativo, o controlador não deve substituir a interpretação plausível do administrador pela sua própria, salvo se aquela não for razoável.[23]
A doutrina da deferência, no Brasil, tem o seu exame atrelado à discussão sobre o respeito, pelo Judiciário, ao mérito administrativo (desde as normas regulamentares e regulatórias, até decisões de gestão pública e atos concretos discricionários), prescrevendo-se que cabe ao Judiciário ser “deferente” (respeitoso) ao juízo de conveniência e oportunidade estatal. Destarte, quando se fala em deferência ao “mérito administrativo”, respeitando-se a “capacidade institucional” própria de cada órgão, protege-se a conveniência e a oportunidade administrativas inseridas na discricionariedade política e administrativa (jamais escolhas arbitrárias do Poder Público). Nesse sentido, a lição do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello: “Mérito do ato é o campo de liberdade suposto na lei e que efetivamente venha a remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo critérios de conveniência e oportunidade, decida-se entre duas ou mais soluções admissíveis perante a situação vertente, tendo em vista o exato atendimento da finalidade legal, ante a impossibilidade de ser objetivamente identificada qual delas seria a única adequada.”[24] Considerando-se sob esse prisma as razões de conveniência e oportunidade, é manifesto que as mesmas escapam ao controle judicial, o que equivale à deferência em favor das escolhas discricionárias da Administração Pública, com respeito às capacidades técnicas dos seus órgãos e entidades. Também veiculando tal entendimento, tem-se a jurisprudência pátria[25].
Diante da LINDB, o que ganha força é o entendimento de que o juízo técnico feito pelo órgão ou gestor que atuou originariamente deve ter primazia em face do controle “a posteriori”, não só no que tange a eventual espaço discricionário. Na verdade, pretende-se que o próprio juízo de legalidade, que considere no momento de aplicação do ordenamento diante da realidade, no momento da atuação que concretiza competências e realiza deveres, tenha primazia em face dos juízos realizados “a posteriori” pelos controladores. O ônus argumentativo que afaste o peso dos limites, dificuldades, restrições e condições de atuação que circundaram o exercício da competência e prática do ato é de quem faz o controle, o que significaria, também nessa etapa de hermenêutica, deferência às decisões administrativas originárias.
Cabe, em relação a essa pretensão, advertência já feita por Leonardo Coelho Ribeiro quanto à incidência da “doutrina Chevron” em relação às agências norte-americanas: “(…) para que tal noção se mantenha de pé, é preciso que esteja amparada não apenas em capacidade em tese, mas em capacidade de fato. Do contrário, em vez de favorecer que as decisões sejam tomadas nos centros especializados mais aptos, apenas as tornará imunes ao controle judicial, desprotegendo os administrados do socorro que cumpre ao Poder Judiciário prestar quando não há mais a quem recorrer diante da ameaça, ou violação a um direito seu. (…) Instituições são construídas com boa arquitetura, boas práticas e continuidade no tempo. E tudo isso deve ser demonstrado para que o argumento das capacidades, então, ceda enquanto fórmula vazia, preenchido com melhores práticas de fato; constatáveis e efetivas. (…) A distância polar entre uma boa ideia e um repetido mantra está apenas na forma de seu emprego prático.”[26]
5. Observações finais
A complexidade das ponderações aduzidas no presente artigo evidenciam a necessidade de se encarar, com seriedade, a análise dos novos dispositivos, o exercício das tarefas deles decorrentes, sem anuir à sedução simplista da ideia de “segurança jurídica a qualquer custo, inclusive com o comprometimento da legalidade como regra” como tábua salvadora de todos os problemas.
Tão ruim como ignorar as circunstâncias fáticas da aplicação do direito administrativo pelo agente público é torná-las “rainhas absolutas” aptas a afastar as consequências de inconstitucionalidades e de graves ilegalidades. Se uma incidência automática e pretensamente matemática do ordenamento é inadmissível como critério absoluto de observar as normas em pleno século XXI, é igualmente absurdo ignorar o conteúdo normativo que rege os comportamentos do Estado e dos particulares nas relações de direito público para dar primazia exclusiva à realidade administrativa quando da atividade estatal.
Outrossim, além da regra do artigo 22 da LINDB que define novas etapas para classificar um ato como ilícito ou não, é preciso nesse mesmo processo a repercussão das “orientações gerais” previstas no artigo 24 introduzido pela Lei Federal nº 13.655/18. Por fim, definida a ilicitude e fixada a pertinência da invalidação, tornou-se indispensável indicar as consequências práticas da extinção do ato, sem assentar somente em “valores jurídicos abstratos” (artigo 20 da LINDB), bem como explicitar condições para, se possível, que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, nem perdas anormais e excessivas aos atingidos (artigo 21 da LINDB). Os referidos dispositivos (artigo 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) serão examinados em um próximo artigo que concluirá sobre as alterações produzidas pela Lei Federal nº 13.655/18 na teoria das nulidades dos atos administrativos, com análise da lógica consequencialista incorporada, de modo expresso, pela LINDB no âmbito do direito público.
[1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 205.
[2]“O ato administrativo é uma criação da doutrina do direito administrativo do século 19. Otto Mayer deu-lhe a sua forma, também hoje ainda determinante no essencial, ao ele o definir como ‘uma decisão da autoridade pertencente à administração, que determina, ante o súdito, no caso concreto, o que para ele deve ser direito’ (…)” (MAURER, Harmut. Direito Administrativo Geral. 14ª ed. Barueri, SP: Manoele, 2006, p. 205-206)
[3]Crítica ao ato administrativo como instrumento tradicional de atividade administrativa – MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A superação do ato administrativo autista in Os caminhos do ato administrativo. MEDAUAR, Odete. SCHIRATO Vitor Rhein (Organizadores). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 89-113.
Direito comparado: “apesar de a Administração Pública dos nossos dias ser cada vez mais uma administração participada e concertada, que chama os particulares a colaborar consigo e que efectua negócios jurídicos com eles muitas vezes em plano de igualdade, não é menos certo que ela não perdeu o seu ius imperii e que continua a aparecer muitas vezes perante os particulares no uso de poderes autoritários.
O acto administrativo é precisamente a principal forma de actuação da Administração dotada de imperatividade e vinculatividade: é um comando destinado a regular imediatamente situações jurídicas de forma unilateral.” (DIAS, José Eduardo Figueiredo ; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Noções Fundamentais de Direito administrativo. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2011p. 371)
Confira-se, também: ALMEIDA, Mário Aroso de. Teoria geral do Direito Administrativo: temas nucleares. Coimbra: Almedina, 2012, p. 109-111 e 156-159
[4] DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Noções Fundamentais de Direito administrativo. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2011, p. 240.
[5] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed. São Paulo, Malheiros. 2006. p. 429.
[6] REsp 56.017-RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a Turma do STJ, DJU de 23.06.97, p. 29.196.À obviedade, tal orientação manteve-se sob a égide da Lei n° 9.784/99: “1 – Ante a evidência de fraude na inscrição do recorrente em Concurso Público, mediante a utilização de documento considerado falso, consoante comprovação produzida pela autoridade coatora, deve a Administração Pública anulá-la, em observância aos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade dos atos administrativos. Vislumbrada a lesão ao erário público, não podendo esse ato ser convalidado, diante da situação irregular do candidato aprovado e nomeado, o Administrador tem o poder-dever de revê-lo, posto que se o candidato que o praticou buscou uma finalidade alheia ao interesse público, diversa da prescrita em lei – no caso concreto, edital –, usando-o em benefício próprio, tal ato é inválido, uma vez que eivado de vício de nulidade desde o nascedouro, não acarretando qualquer direito subseqüente a seu beneficiário (cf. Precedentes – RMS n°s 52/MA e 7.688/RS, ambos desta Corte e RE n° 85.557, do STF).” (ROMS n° 11.668-PR, rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma do STJ, DJU de 18.02.2002, p. 468).
[7] STF (impossibilidade de convalidar vícios insanáveis): MS nº 26.000-SC, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma do STJ, DJe de 13.12.2012.
[8] Invalidação e Indenização (Diógenes Gasparini): a invalidação ou a anulação não outorga ao beneficiário do ato extinto qualquer direito à indenização, desde que ela ocorra antes de qualquer investimento ou realização de despesas. Se o investimento ou alguma despesa foi realizado e o beneficiário estava de boa-fé, tem o mesmo direito à indenização. Na hipótese de má-fé, inexistente tal direito. A indenização também é cabível em relação a terceiros de boa-fé, alcançados pelos efeitos da invalidação. (GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 116)
Em sentido diverso – Marçal Justen Filho: “O particular tem a garantia de exigir que, se os efeitos do ato forem desfeitos, seja a ele assegurada a indenização necessária. Essa indenização não poderá nem ser negada nem ser determinada unilateralmente pela Administração.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)
[9] “II – No sistema de nulidades dos atos administrativos, o entendimento na doutrina e na jurisprudência é uníssono de que, havendo vício nos requisitos de validade do ato administrativo – competência, finalidade, forma, motivo e objeto – deve ser reconhecida a nulidade absoluta do ato, impondo a restauração do status quo ante.” (Embargos Declaratórios no Agravo Interno no REsp nº 1.564.805-MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma do STJ, DJe de 17.08.2017).
[10]STJ – Voto do Ministro Nefi Cordeiro: “Mesmo que assim não fosse, os descontos das parcelas anteriores à concessão da tutela antecipada, efetuados unilateralmente pela Administração sob a afirmação de que cobertos pelo princípio da autotutela administrativa, não se coaduna com o entendimento jurisprudencial de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor nas hipóteses de errônea interpretação, má aplicação da lei ou erro por parte da Administração. (…) Ademais, certo é que o desconto de tais parcelas, recebidas de boa-fé, somente pode ser efetivado mediante ação judicial, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ilustrativamente, eis o seguinte precedente: (…)” (Agravo Regimental REsp nº 1.197.305-MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma do STJ, DJe de 24.06.2015)
“VI. Estando, portanto, incontroverso que a Administração continuou o pagamento indevido, mesmo após a ciência do trânsito em julgado do acórdão que cassara a anterior concessão da segurança, resta configurado o erro administrativo, que não pode ser imputado aos servidores, ora agravados.
VII. Ademais, a Corte Especial do STJ reafirmou o entendimento de que não é lícito descontar diferenças recebidas indevidamente por servidor, de boa-fé, em decorrência de erro operacional da Administração (STJ, MS 19.260/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 11/12/2014). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.560.973/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015; AgRg no AREsp 558.587/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/08/2015; AgRg no AREsp 422.607/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2014; AgInt no REsp 1.598.380/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2016.” (Agravo Interno no Agravo em REsp nº 418.220-DF, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma do STJ, DJe de 08.03.2017).
[11] Segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé e não devolução dos valores recebidos em razão de liminar judicial: Agravo Regimental no MS nº 28.821-segundo-DF, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma do STF, DJe de 28.03.2017
Segurança jurídica – boa-fé e não devolução e valores recebidos em razão de interpretação errada da Administração Pública – Tema Repetitivo 535 do STJ: REsp nº 1.244.182-PB, rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção do STJ, DJe de 19.10.2012
Teoria do Estoppel: GIACOMUZZI, José Guilherme. Nunca confie num burocrata. A doutrina do ‘estoppel’ no sistema da ‘common law’ e o princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37 da CF/88). In: ÁVILA, Humberto (org.). Fundamentos do estado de direito: estudos em homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. ÁVILA, Humberto (org.). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 378-427 (indicação de leitura)
Inconstitucionalidade – Confiança legítima e inadmissibilidade de invalidar: “ATO ADMINISTRATIVO. Terras públicas estaduais. Concessão de domínio para fins de colonização. Área superiores a dez mil hectares. Falta de autorização prévia do Senado Federal. Ofensa ao art. 156, § 2º, da Constituição Federal de 1946, incidente à data dos negócios jurídicos translativos de domínio. Inconstitucionalidade reconhecida. Nulidade não pronunciada. Atos celebrados há 53 anos. Boa-fé e confiança legítima dos adquirentes de lotes. Colonização que implicou, ao longo do tempo, criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, etc.. Situação factual consolidada. Impossibilidade jurídica de anulação dos negócios, diante das consequências desastrosas que, do ponto de vista pessoal e socioeconômico, acarretaria. Aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, como resultado da ponderação de valores constitucionais. Ação julgada improcedente, perante a singularidade do caso. Votos vencidos. Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, não podem ser anuladas, meio século depois, por falta de necessária autorização prévia do Legislativo, concessões de domínio de terras públicas, celebradas para fins de colonização, quando esta, sob absoluta boa-fé e convicção de validez dos negócios por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou, ao longo do tempo, com criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, etc..” (ACO nº 79-MT, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno do STF, DJe de 25.05.2012)
– “A estabilidade social e jurídica alcançada na região a partir desse ato não pode ser abalada com a pretendida remarcação ampliativa da área. Nesse amplo contexto, cabe ao STJ analisar as questões pertinentes às demarcações de terras indígenas com os olhos voltados para as diretrizes fixadas pelo STF, até mesmo em homenagem aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.” (MS nº 21.572-AL, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção do STJ, julgamento em 10.06.2015, DJe 18.06.2015, Informativo 564 do STJ).
[12]Referindo-se à “modulação temporal dos efeitos da declaração da nulidade, e não de se aceitar ou não a anulabilidade no Direito Administrativo”: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria Geral dos atos administrativos – uma releitura à luz dos novos paradigmas do direito administrativo in Os caminhos do ato administrativo. Organizadores MEDAUAR, Odete ; SCHIRATO Vitor Rhein. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 64.
[13] Releitura da Súmula 473 em face do artigo 5º, LV da CF (exigência de contraditório, ampla defesa e procedimento administrativo prévios ao exercício da autotutela): acórdãos do STF (RE 355.856-SC, rel. Min. Marco Aurélio, 22.2.2005, 1ª Turma do STF, Informativo 377 do STF e RE nº 158.543-RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma do STF, DJU de 06.10.95, p. 33.135) e do STJ (Agravo Regimental no Agravo em REsp nº 350.220-RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma do STJ, DJe de 30.04.2015; ROMS nº 16.065-SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma do STJ, DJe de 08.06.2009)
STF: “Consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” (Agravo Regimental no RE nº 590.964-AL, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma do STF, DJe de 12.11.2012)
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade, à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os, tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu na hipótese em exame”. (Agravo Interno no Recurso em MS nº 48.822-SE, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma do STJ, DJe de 17.08.2017).
[14]ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4.ed. 2.tir. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 25.
[15] DERRIDA, Jacques. Força de lei. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, p. 44.
[16] DERRIDA, Jacques. Força de lei. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, p. .
[17] JORDÃO, Eduardo. Artigo 22: Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público brasileiro. Revista de Direito Administrativo, novembro de 2018, p. 65-66; 68-70
[18] MARQUES NETO, Floriano de Azevedo ; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei 13.655/2018 (Lei da Segurança para Inovação Pública). Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 57; 59
[19] GARCIA. Fábio Henrique Falcone. Apontamentos sobre a (ir)racionalidade jurídica e a reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Anotada. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 47-48
[20] JORDÃO, Eduardo. Artigo 22: Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público brasileiro. Revista de Direito Administrativo, novembro de 2018, p. 65-66; 68-70
[21] JORDÃO, Eduardo. Artigo 22: Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público brasileiro. Revista de Direito Administrativo, novembro de 2018, p. 74.
[22] FRANÇA, Phillip Gil. Ato administrativo, consequencialismo e compliance. Gestão de riscos, proteção de dados e soluções para o controle judicial na era da IA. 4ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2019, p. 129; 131; 143.
[23] RIBEIRO, Leonardo Coelho. Presunções do ato administrativo, capacidades institucionais e deferência judicial a priori: um mesmo rosto, atrás de um novo véu? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. V. 22, ano 4, p. 85-115, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan.-fev. 2010.
Confira-se a análise doutrinária sobre a “doutrina chevron” nos EUA: Em 1984: Suprema Corte decidiu o caso Chevron, U.S.A. Inc v. Natural Resources Defense Council.
– Teste Chevron em duas etapas. “A primeira etapa é determinar se o texto da lei a ser interpretado é ambíguo, ou se o significado da disposição é claro, utilizando-se ferramentas tradicionais de interpretação legal. Se o sentido da disposição é claro, esse é o fim da questão, e o tribunal declara o significado claro da lei. Se, no entanto, após o uso de ferramentas tradicionais de interpretação da lei, o significado da disposição não pode ser considerado claro, mas sim permanece ambíguo, em seguida, o tribunal vai para a segunda etapa. A segunda etapa é determinar se a interpretação da agência é razoável ou admissível, ou se a interpretação está fora do âmbito de ambiguidade da disposição legal. Se a interpretação que a agência faz é razoável ou admissível, o tribunal mantém a interpretação da agência, mesmo que ele (tribunal) entenda que não se trata da melhor interpretação.”
– Exceções à Doutrina Chevron (situações em que a deferência não é adequada): I) se a interpretação é feita pela primeira vez pela agência no âmbito de um litígio em que ela é parte; II) se a agência que faz a interpretação não é a agência responsável pela ‘administração’, total ou parcial, da lei, no sentido de ter poder normativo e de julgamento (poder de polícia).
– Em Christensens v. Harris County (2000), a Suprema Corte decidiu que interpretações a pareceres jurídicos (opinion letters), tais como declarações políticas (policy statements), manuais da agência (agency manuals) e orientações de aplicação (enforcement guidelines), carecem de força de lei, e por isso não implicam uma deferência de maneira de Chevron.
– No caso Mead, A Suprema Corte entendeu que, para se analisar se há ou não a incidência de Chevron, deve ser feita uma avaliação contextual das ações da agência: determinar se, de fato, o Congresso delegou competência legislativa à agência e se a interpretação em que a agência invoca a deferência de Chevron foi feita no exercício da competência delegada.
– Em Barnhart v. Walton (2002) prevaleceu a visão do ministro Breyer, que há bastante tempo defendia abordagem contextual para determinar a deferência judicial às interpretações da lei das agências, em vez de uma regra geral de deferência. “Nessa decisão, a Suprema Corte entendeu que a natureza intersticial da questão jurídica, a expertise da agência relativa a ela, a importância da questão para a execução da lei, a complexidade dessa execução e o exame cuidadoso que a agência tem feito sobre a questão por um longo período de tempo, tudo isso indica que a Doutrina Chevron fornece a ‘lente adequada’ para se visualizar a legalidade da interpretação da lei feita pela agência.”
– Seminole Rock & Sand Co (1945): Suprema Corte – quando confrontado com a necessidade de interpretar um regulamento administrativo, o tribunal deve necessariamente olhar para a interpretação administrativa do regulamento se o significado das palavras gera dúvida. A intenção do Congresso ou os princípios da Constituição em algumas situações podem ser relevantes em um primeiro momento na escolha entre várias interpretações. Mas o critério final é a interpretação administrativa, que se torna o peso controlador (controlling weigh) a menos que ela seja claramente errônea ou inconsistente com o regulamento. (p. 135-136) Linguagem do regulamento clara: fim do assunto: Linguagem ambígua: tribunal verifica se a Constituição ou a lei torna uma determinada interpretação inadequada. Finalmente, se houver interpretação administrativa não descartada pela Constituição ou pela lei, essa interpretação é dominante a menos que seja claramente errônea ou inconsistente com o regulamento (semelhança com deferência Chevron – interpretação razoável ou ser admissível na agência). O que veio a ser conhecido como Doutrina Seminole Rock foi reafirmado em Awer v. Robbins (1997), depois de Chevron.
– A adoção da doutrina Chevron não pode ser feita sem levar em conta a realidade brasileira. Para que seja valorizada a atuação administrativa no Brasil, é preciso, primeiro, fortalecer as instituições públicas. (p. 143) “Sem que ocorra o fortalecimento institucional, a deferência judicial a decisões administrativas pode significar apenas o retrocesso no controle da administração pública.” (SILVEIRA, Andre Bueno da. Doutrina Chevron no Brasil: uma alternativa à insegurança jurídica. Revista de Direito Administrativo, v. 275, p. 132-144, maio/ago. 2017)
[24] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 908-909
[25] STF – Controle judicial – Deferência ao juízo técnico (capacidade institucional) – Voto Ministro Luís Roberto Barroso: “O Plenário iniciou julgamento conjunto de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e de ação declaratória de constitucionalidade (ADC) em que se discute a idade mínima para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental.
Na ADC, na qual já proferidos os votos do ministro Edson Fachin (relator) e do ministro Alexandre de Moraes (Informativo 879), pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade dos artigos 24, II, 31 e 32, “caput”1, da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB).
(…) O ministro Roberto Barroso proferiu voto-vista na ADC, no sentido de julgar procedente o pedido, para declarar a constitucionalidade dos dispositivos analisados. Acompanhou o voto do ministro Fachin no tocante à declaração de constitucionalidade da LDB. Por outro lado, não o acompanhou na parte em que declarou a inconstitucionalidade da resolução do CNE. Para ele, é constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário.
O ministro Barroso se referiu ao critério da capacidade institucional e observou que a resolução do CNE é respaldada por parecer do Conselho Federal de Psicologia. Entendeu que, em questões técnico especializadas, se a decisão do órgão competente for razoável e devidamente justificada, o Poder Judiciário deve ter, em relação a ela, uma atitude de deferência e de autocontenção. Ou seja, como regra geral, o Judiciário deve respeitar as escolhas políticas tomadas pelo Legislativo e as decisões técnicas tomadas pelos órgãos especializados competentes, não cabendo a elas se sobrepor, salvo no caso de usurpação de competência, inobservância de devido processo legal ou manifesta falta de razoabilidade da decisão.” (ADPF nº 292-DF, rel. Min Luiz Fux, e ADC nº 17-DF, rel. Min. Edson Fachin, Pleno do STJ, julgamento em 25.05.2018, Informativo 903 do STF)
Observação: voto exarado anteriormente pelo Ministro Alexandre Moraes em sentido diverso. “Destacou a irrazoabilidade do estabelecimento de data de corte como critério limitativo de matrícula, o qual é consequência de mero pragmatismo e arbitrariedade governamentais, ferindo o princípio da igualdade e o pleno desenvolvimento da criança.” (ADC nº 17-DF, rel. Min. Edson Fachin, Pleno do STJ, julgamento em 27.09.2017, Informativo 897 do STF)
– STF – voto do Ministro Roberto Barroso: respeito à discricionariedade técnica do órgão da Administração Pública: “(…) subsiste controvérsia a respeito da fixação dos pontos apropriados, ou seja, das marcações feitas na costa a partir de onde se traçam as perpendiculares para demarcar a divisa territorial.
(…) Além disso, a fixação dos pontos apropriados para definição das linhas de bases retas envolve relevante grau de discricionariedade técnica, atribuição que foi conferida ao IBGE, entidade que possui a expertise técnica necessária para tal tarefa.
Nessa medida, cabe ao Poder Judiciário observar o dever de autocontenção, por não se tratar do órgão com maior capacidade institucional para decidir questões dessa natureza, cabendo-lhe intervir apenas em casos de inobservância do devido processo legal ou de ilegalidade.
A despeito da pretensão do Estado de Santa Catarina, os pontos apropriados na costa foram demarcados adequadamente pelo IBGE. No entanto, ao fazer a projeção das linhas ortogonais a partir dos pontos apropriados, utilizou, arbitrariamente, critério não previsto na lei, em detrimento daquele Estado. Isso porque estendeu a projeção marítima das divisas do Paraná até a altura da plataforma continental, quando, na verdade, as linhas ortogonais traçadas a partir dos pontos apropriados se cruzavam bem antes. O próprio IBGE reconheceu se tratar de solução arbitrária e carente de respaldo legal.” (ACO nº 444-SC, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno do STJ, julgamento em 27 e 28.06.2018 Informativo 908 do STF)
STF: – RE nº 635.648-CE, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 14.6.2017 (Informativo 869 do STF): Professor substituto e contratação temporária: resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao Poder Legislativo. Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. Assim, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
[26] RIBEIRO, Leonardo Coelho. Presunções do ato administrativo, capacidades institucionais e deferência judicial a priori: um mesmo rosto, atrás de um novo véu? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, v. 22, p. 1-25, 2016

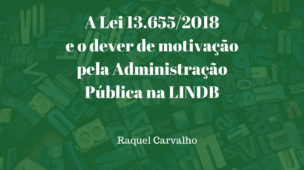
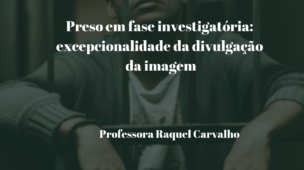



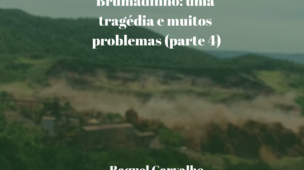
Link permanente
O artigo é tecnicamente verticalizado e navega em torno de disciplinas outras do direito, que não apenas a administrativa. São abordados, ainda que indiretamente, assuntos tais quais: Métodos de Cláusulas Gerais como meios integração de normas; Teoria Tridimensional do Direito, de Migue Reale; Hermenêutica Jurídica (propostas neoconstitucionais de construção de sentidos normativos e “Abertura Constitucional”, como a proposta por Peter Haberle), etc.
A Administração e a praxe dos órgãos administrativos de Controle ganham relevo especial, no artigo, e não poderia ser diferente, dada a reconhecida experiência profissional e acadêmica da autora em tais áreas.
O texto é envolvente, sério e moderno, o que dá a ideia do quão a autora é comprometida com os seus estudos.
(mero estudante).
Link permanente
Muito obrigada, Coragem Adelante! Que os artigos e aulas possam ser ressignificados por vocês e ganhem o mundo por e com novos olhares. Ótimos estudos e meu abraço