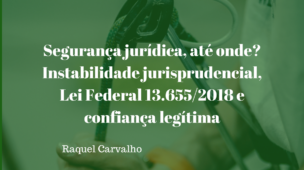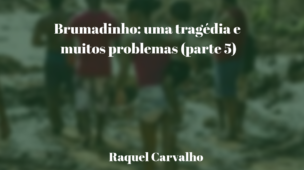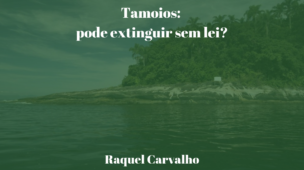Tempo de leitura: 68 minutos
Sumário
1. Considerações preliminares: consequências jurídicas em face de ilícitos e teoria da responsabilidade
Desde que em Brumadinho estourou a barragem do Córrego do Feijão, discutem-se consequências da tragédia em diversas esferas: na seara penal, restrição à liberdade dos profissionais responsáveis; multas de valores significativos no exercício do poder de polícia; interdição de funcionamento de outras barragens ainda em se tratando da polícia administrativa e, principalmente, ressarcimento dos prejuízos sofridos tendo em vista a responsabilidade integral pelos danos ambientais causados.
Cumpre esclarecer que, diante do cometimento de ilícitos, o Direito prevê diversas esferas nas quais há uma reação pelo descumprimento de obrigações fixadas em face de uma pessoa privada ou pública. Considerando ilícitos ambientais, tem-se penalidades previstas no direito penal, enquadráveis na lei de improbidade administrativa, possíveis consequências disciplinares sobre agentes públicos que tenham agido com culpa ou dano, sanções a título de polícia administrativa sobre os infratores (inclusive empresas privadas), bem como dever indenizatório que se qualifica como “ressarcimento civil” ou “reparação civil”.
Autores como Fábio Medina Osório tratam do chamado “Direito Sancionador” e reconhecem que o Direito Penal é tido como o mais grave instrumento do ordenamento jurídico. Segundo ele, essa presunção pode ser contestada, pois há toda uma gama de formalismos nesse ramo jurídico, sendo que a proteção não raramente chega a ser excessiva dos interesses individuais do réu. Conclui o autor que o Direito Penal talvez tenha chegado a um clima pré-falimentar no cenário brasileiro, desacreditado em sua força de combate à impunidade dos poderosos e dos grandes infratores, blindados por legislações casuísticas ou esquemas processuais bem montados. Assim, pondera que nem sempre condenações criminais produzem os desejados efeitos administrativos, diante da inércia dos juízes ou distorções sociológicas (reduzida pena prevista para determinados delitos) ou omissão de fixar determinados efeitos. Daí persistir autônomo o combate à improbidade ou ao ilícito administrativo pelas vias extrapenal e administrativa, do ponto de vista funcional. Tem-se a multiplicidade de demandas por um mesmo fato ilícito, advertindo a jurisprudência do STF que a independência das diversas esferas estatais punitivas não deve significar supressão de garantias fundamentais, ao que acresce:
“A visão consolidada majoritariamente é restritiva, estimulando que um sujeito, por um mesmo fato, responda algumas possíveis intervenções punitivas, provenientes de instâncias diversas, a saber exemplificativamente: sanção do Tribunal de Contas; sanção administrativa inerente ao Poder Executivo; sanção judicial por ato de improbidade; sanção judicial por crime ou contravenção. Estas sanções podem ser repetidas, dando lugar a que se discuta sobre os limites dessa repetição e da quantificação final das penas. Podem, no entanto, tais sanções, apresentarem-se de modo original, complementando-se. Assim como os processos punitivos são autônomos, também as sanções acabam assumindo essa identidade.”[1]
Nessa porfia, Medina Osório adverte que é comum que o sujeito responda a uma ação por improbidade e outra por crime contra a Administração Pública, em razão do mesmo suporte fático, sendo certo que “A legislação que reprime atos ímprobos costuma trilhar caminhos tipificatórios alicerçados em cláusulas gerais, termos jurídicos indeterminados repletos de vagueza semântica, ao passo que as leis penais estão, ao menos do ponto de vista histórico, atreladas a uma dogmática mais rígida na proteção dos direitos fundamentais, coibindo aberturas excessivas aos operadores jurídicos.” Destarte, os atos de improbidade comportam um regime mais rigoroso de responsabilidades dos infratores, por força da espécie de relação de sujeição entre o Estado e o infrator. As hipóteses de potencial tensão ou colisão são frequentes, mormente após o advento da Lei 8.429/92 (tipifica e sanciona atos ímprobos que, ao mesmo tempo, podem constituir infrações penais disciplinares). Reconhecendo que nem sempre o legislador vale-se da melhor técnica para tipificar, abstratamente, os ilícitos, o doutrinador sublinha que independência das instâncias consagrada para tutela da probidade administrativa tem status autônomo, não sendo possível invocar o “non bis in idem” na tutela das relações entre Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador quando se trata de atos de improbidade administrativa, na lógica do artigo 37, § 4º da Constituição.[2]
Além das searas penal e de improbidade, cumpre destacar a responsabilização cabível em face daquele que causou prejuízo a outrem, o que caracteriza a chamada responsabilidade extracontratual vigente no direito civil e no direito administrativo. Lições doutrinárias basilares asseveram que a teoria da responsabilidade – encontrada no ordenamento jurídico de todos os povos civilizados e sem a qual a vida social é inconcebível – impõe, a quem causa dano a outrem, o dever de o reparar:
“A responsabilidade, quer pública, quer privada, pode ser contratual e extracontratual. A responsabilidade contratual deriva da infração de cláusulas aceitas por ambas as partes. A responsabilidade extracontratual é derivada da idéia de que quem desempenha uma atividade deve suportar-lhe os riscos e perigos, as vantagens e desvantagens. Do ponto de vista histórico, a responsabilidade privada é instituto antigo e milenar, tendo suas bases no direito romano; já a responsabilidade pública nasce praticamente com o Direito Administrativo, nos fins do século XIX.”[3]
Se se tem responsabilidade contratual quando o agente descumpre o avençado, tornando-se inadimplente (ou seja, há uma convenção prévia entre as partes que não é cumprida), na responsabilidade extracontratual o agente infringe um dever legal. De fato, no caso da responsabilidade extracontratual ou aquiliana (privada ou pública), a rigor não existe qualquer vínculo jurídico especial entre a vítima e o causador do dano quando do seu comportamento, mas o dever ressarcitório incide na espécie pela inobservância de um dever legal.[4]
Considerando esses elementos, pode-se conceituar genericamente a responsabilidade civil como sendo um dever jurídico, que surge em decorrência da violação de uma obrigação imposta por lei ou por acordo de vontades (dever jurídico originário), oriunda de ação ou omissão voluntárias e específicas (quando há o dever legal ou razoável de agir), sempre que tal situação gerar um dano a um bem juridicamente protegido, que será restaurado via indenização.[5]
Essa responsabilidade indenizatória não exclui nenhuma punição decorrente do Direito Sancionador brasileiro, o qual se baliza pela independência das instâncias, consoante lúcidos ensinamentos da doutrina: “Isso significa dizer que um mesmo ato ilícito pode sofrer reprimendas distintas nas esferas cível, penal e administrativa, sem que isso signifique transgressão ao princípio do non bis in idem.
(…) A regra é, portanto, que cada esfera de responsabilização cuide de conduzir seu processo e aplicar suas correspondentes sanções de forma autônoma. As decisões entre as searas administrativa, civil e penal só se comunicariam quando a lei assim o dispuser de forma expressa.” [6]
Em se tratando de danos ambientais, tem-se afirmado que no Direito Brasileiro prevalece a teoria do dano integral. Além de se reconhecer o dever de indenizar, afasta-se a necessidade da culpa ou do dolo, bem como não se admite que excludentes de responsabilidade possam impedir o dever ressarcitório daquele que, com sua ação ou omissão, causou o prejuízo.
Nesse sentido, a doutrina pontua que “A teoria do risco integral é a que mais se identifica com a responsabilidade objetiva porque se esgota na verificação do nexo de causalidade material: o prejuízo sofrido pelo particular”. A distinção da teoria do risco administrativo e do risco integral, para autores como Weida Zancaner “não é uma distinção conceitual, mas simplesmente decorrente das conseqüências de uma ou outra modalidade: o risco administrativo é qualificado pelo seu efeito de permitir a contraprova de excludente de responsabilidade, efeito que se pretende seria inadmissível se qualificado como risco integral, sem que nada seja enunciado quanto à base ou natureza da distinção.”[7]
É certo, portanto, que falar em teoria do risco integral é estabelecer como condições do dever ressarcitório a ocorrência de um comportamento omissivo ou comissivo, de danos sofridos por outrem e do nexo causal entre eles, sem que se admita qualquer fato capaz de excluir a obrigação indenizatória (nem caso fortuito, nem força maior, nem culpa de terceiro). Para afirmar a sua incidência em qualquer seara, inclusive ambiental, é preciso analisar o ordenamento vigente.
2. Responsabilidade integral por dano ao meio ambiente
O artigo 225 da Constituição da República fixa que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Nesse contexto constitucional, qualifica-se o direito ao meio ambiente como um direito fundamental de “terceira geração”, a ser preservado no interesse das gerações presente e futuras, em benefício de todos os seres vivos.
De fato, o próprio Supremo Tribunal Federal vem afirmando que o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. “Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.”[8]
Na tentativa de garantir a proteção ao referido direito de terceira geração, o texto constitucional fixou no § 3º do artigo 225, “in verbis”: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” Decorre da literalidade do dispositivo a viabilidade de que se apliquem punições administrativas, criminais e, ainda, simultaneamente, que se busque o ressarcimento dos danos sofridos. Clássica é a lição de José Afonso da Silva a respeito do artigo § 3º do artigo 225:
“O dispositivo constitucional, como se vê, reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa – a criminal e a civil – com as respectivas sanções, o que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.”[9]
A explicitação da responsabilidade extracontratual ambiental encontra-se determinada na Lei Federal nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), cujo artigo 14 determina no “caput” e § 1º:
“Art 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
I – à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.
II – à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;
III – à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV – à suspensão de sua atividade.
§ 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (sem destaque no original)
O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria[10] e defendido pela maior parte da doutrina é que do regime próprio e específico de responsabilidade civil ambiental resultante do artigo 225, § 3º da CR e do artigo 14, § 1º da Lei Federal nº 6.938/81 decorre a responsabilidade integral. Por conseguinte, em se tratando de indenização dos prejuízos sofridos pelo meio ambiente e terceiros afetados por comportamentos omissivos ou comissivos de uma pessoa privada, não apenas se dispensa prova de culpa e dolo, como não se admite alegação de quaisquer eventuais excludentes de responsabilidade. Invoca-se, ainda, o artigo 942 do Código Civil segundo o qual “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.
À luz desse ordenamento, o entendimento majoritário é no sentido de que o agente poluidor que causa, sozinho ou em conjunto, danos ao meio ambiente e a outros afetados por sua ação ou omissão, deve com seu patrimônio reparar os prejuízos, inclusive promovendo a regeneração possível da área atingida. Para incidir esse dever as condições são a existência de uma atividade de risco ambiental ou de comportamento(s) ilícito(s) já comprovado(s), dano efetivo ou potencial imposto a um terceiro ou ao meio ambiente e, por fim, o nexo causalidade entre o comportamento/atividade e o resultado lesivo. Insiste-se quanto à teoria da responsabilidade integral: a) não cabe investigar se o comportamento do agente causador do prejuízo é doloso ou culposo; b) não se admitem excludentes de responsabilidade. Afinal, a responsabilidade do poluidor-pagador, nessa perspectiva, é integral e vincula todos que direta ou indiretamente provocam o dano, reconhecendo-se a sua natureza “propter rem”.
Além do fundamento constitucional e da materialização do princípio do poluidor-pagador, fortalece-se a ideia de que o ônus decorrente dos custos sociais da atividade recai sobre o autor do prejuízo, em se tratando de dano ambiental. Nessa linha de raciocínio, a existência de uma atividade de alto risco como a mineração, que pode gerar risco à vida e à saúde das pessoas, bem como ao meio ambiente, é suficiente para fazer presente a responsabilidade da empresa, independentemente da licitude da atividade desenvolvida. Nem mesmo eventual licenciamento ou laudos privados que indiquem legitimidade das condições mineradoras afiguram-se elementos aptos a excluir a responsabilidade de quem, com sua atividade, causa mortes e degradação ao meio ambiente, sendo dever da empresa ressarcir os prejuízos sofridos. Para tanto, basta que haja evidência da relação de causa e efeito entre a atividade minerária e o dano ambiental, à saúde e à vida das pessoas. Comprovado esse nexo, não há que se exigir dolo ou culpa, prova de má-fé ou boa-fé, nem cabe invocar culpa de terceiro, força maior ou caso fortuito. Provadas as condições de responsabilização, impõe-se o dever indenizatório.
2.1 A doutrina de Lyssandro Norton Siqueira
Dentre os autores que tratam do tema da responsabilidade por danos ao meio ambiente, destaca-se a moderna tese desenvolvida pelo professor Lyssandro Norton Siqueira em seu doutorado, agora já publicada no livro “Qual o valor do meio ambiente?”[11]. Os diversos fundamentos, o histórico normativo e jurisprudencial, bem como as análises críticas feitas às distintas realidades são explicitados a seguir, com transcrições que buscam resumir parte do raciocínio desenvolvido pelo autor, o que ensejará reflexão subsequente:
Atualmente, a jurisprudência sobre responsabilidade civil ambiental tem sido informada por algumas teses principais. A adoção da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental consiste na imputação da obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, independentemente da existência de culpa. Mesmo no sistema informado pela responsabilidade objetiva, admitem-se, em regra, as excludentes de responsabilidade, como aquelas que afastam o nexo de causalidade: caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Em matéria ambiental, contudo, tem prevalecido, no Brasil, a adoção da Teoria do Risco Integral, não se admitindo as excludentes do nexo de causalidade.
Para José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala, ‘o agente poluidor deve assumir integralmente todos os riscos que advém de sua atividade, por tratarse da socialização do risco’.
Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro traria um regime especial de responsabilidade ao degradador ambiental e sem prever qualquer exclusão da obrigação de reparar o dano ecológico (caso fortuito, força maior, proveito de terceiro, licitude da atividade, culpa da vítima). Examinando a aplicação ao dano ambiental das excludentes do nexo de causalidade, Annelise Monteiro Steigleder leciona que ‘o chamado fortuito interno integra os riscos do empreendimento, que deverão ser internalizados pelo empreendedor da atividade’. Quanto à força maior, entende que caberá ao empreendedor demonstrar que se trata de um fato externo, imprevisível e irresistível. Já quanto ao fato de terceiro, admite a sua aplicação ‘desde que completamente estranho ao empreendimento do pretenso poluidor’.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito disposto no art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), adotou a teoria do risco integral em se tratando de responsabilidade civil por dano ambiental. Para aquela Corte, ‘a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar (…)’ STJ, 2ª Seção, REsp n. 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, in DJe de 05/09/2014.
Destaque-se o voto do Relator: Com efeito, em relação aos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art.14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advinda de uma ação ou omissão do responsável.
Por todos, Annelise Monteiro Steigleder leciona que, conforme o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, tendo por pressuposto a existência de atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, sendo o nexo de causalidade ‘o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de indenizar’, de modo que aquele que explora a ‘atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela’; por isso, descabe a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil.
A posição foi destacada no n. 30 da Jurisprudência em Teses’, publicação do Superior Tribunal de Justiça: 10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mereceu críticas de parte da doutrina: Não cremos que haverá reversão da tendência – majoritária – que considera o risco integral como teoria aplicável às excludentes da responsabilidade civil no direito ambiental (o STJ tem repetido nas ementas de seus acórdãos que nos danos ambientais aplica-se a teoria do risco integral, e não há, talvez, fator mais forte para reafirmar uma tese do que repetições como essas). É uma opção, digamos assim, politicamente correta. Mas, com a devida licença, tecnicamente equivocada. Poderíamos chegar a resultados semelhantes com modelos conceituais mais próprios.291 Entendem os autores (Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto, Nelson Rosenvald) que a responsabilidade civil ambiental deve ser regida pela responsabilidade objetiva agravada, ou pelo risco agravado, pela qual ‘fatos que antes excluiriam o dever de indenizar, por serem considerados fortuitos externos, passam, aos poucos, com a maturação jurisprudencial, a ser tidos como fortuitos internos’. A adoção da teoria do risco integral, ao não admitir excludentes de responsabilidade como o caso fortuito ou a força maior, demonstra a ampliação, no direito brasileiro, da preocupação quanto à imputação de responsabilidade àqueles que explorem atividades econômicas potencialmente causadoras de dano ambiental. No entanto, fundamentar a adoção desta teoria na própria responsabilidade objetiva, como o fez o Superior Tribunal de Justiça, não nos parece ser adequado. Isso porque a responsabilidade objetiva atua apenas na culpabilidade, dispensando a análise do elemento subjetivo do autor do dano para a imputação de responsabilidade. Caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro excluem o nexo de causalidade, e, portanto, não existe vínculo entre a ação do empreendedor e a ocorrência do dano. Porém, em se tratando de dano ambiental, estas excludentes integram o risco da atividade e deverão ser internalizadas pelo empreendedor.
Completando todo esse arcabouço de proteção jurídica ao meio ambiente, é forte na jurisprudência a tese da solidariedade quanto à responsabilização de todos que tenham contribuído para o dano ambiental. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Em termos de responsabilidade civil, aplicável o disposto no art. 942 do Código Civil de 2002, no sentido de que ‘os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação’.
Nos termos do disposto no art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81, considera-se poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Extrai-se do dispositivo legal que todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para o dano ambiental serão solidariamente responsáveis.
Assim, a partir do conceito legal de poluidor, tem-se consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a lei prevê a responsabilidade solidária entre todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para o dano ambiental. Esse é o caso, por exemplo, do adquirente de imóvel já danificado que, embora não tenha sido o causador direto do dano ambiental, consente, ainda que indiretamente, com a conduta do real causador do dano ao adquirir o bem.296
No já mencionado desastre ambiental ocorrido em Mariana, a Samarco Mineração S/A é a principal responsável, como operadora da barragem de Fundão e poluidora direta. Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., na qualidade de controladoras da companhia Samarco Mineração S/A, são poluidores indiretos, figurando todos como corresponsáveis solidários. Ocorre que a Vale S/A também utilizava a Barragem de Fundão para despejar rejeitos de sua própria mineração, conforme demonstrado no Processo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) n. 930.193/1982, (DNPM). Assim, a Vale S/A também é poluidora direta.
Na citada publicação do Superior Tribunal de Justiça, n. 30 de sua Jurisprudência em Teses, a solidariedade recebeu destaque como tese consolidada: 7) Os responsáveis pela degradação ambiental são coobrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo.
A corresponsabilidade não só aumenta as garantias de reparação do dano ambiental, como ainda dispensa a identificação precisa de qual foi a conduta poluente e de quem tenha sido seu direto causador.
Como corolário da responsabilidade solidária por dano ambiental, a responsabilização do adquirente de um empreendimento causador de dano ambiental permite seja demandado o causador indireto do dano, por se envolver em um negócio jurídico que tenha por objeto uma atividade que ocasionou prejuízo ao meio ambiente.
O mesmo raciocínio se aplica ao adquirente de um imóvel: 9) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.
A possibilidade de responsabilização solidária de todos os que contribuíram para o dano ambiental constitui instrumento para a efetividade do Direito Ambiental, aplicado ao setor minerário, por viabilizar a responsabilização de empreendimentos coligados, sucessores, fornecedores e contratantes.
Quanto à atividade minerária, deve haver uma preocupação diferenciada na responsabilização de empreendedores.
Tratando-se de responsabilização para a recuperação da área explorada, a exigência ao empreendedor deve ser feita em conformidade com o Plano de Recuperação de Área Degradada a ser aprovado pelos órgãos ambientais competentes.
Como já se disse, o PRAD deve anteceder o próprio início do empreendimento, impondo-se a sua paralisação ante a constatação do exercício de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente sem a apresentação e aprovação pelos órgãos competentes do plano de recuperação. Interessante notar que a responsabilidade pela apresentação do PRAD também é solidária entre o efetivo causador do dano ambiental e o proprietário da área, ‘mormente porque a jurisprudência do colendo STJ é uníssona no sentido de que a não influência direta no dano ambiental não implica a ausência de responsabilidade de reparação, já que esta é solidária entre o proprietário e os efetivos causadores do dano’. A importância do estrito cumprimento dos planos de recuperação de áreas degradadas afasta a aplicação no campo do direito ambiental da chamada teoria da imprevisão, não se admitindo a alegação de dificuldades financeiras como justificativa para retardar, para além do prazo anteriormente concedido, a recuperação do passivo ambiental.
A resposta do Poder Judiciário à degradação ambiental, responsabilizando o empreendedor, veio, neste caso, acompanhada de uma condenação à própria sociedade, em um dos pontos da condenação. Ao instituir ‘obrigação de fazer solidária em desfavor da União e da FUNASA’, a sentença volta para a sociedade o custeio da externalidade negativa causada por aquele que internalizou os lucros. A responsabilização do Poder Público, e por consequência da sociedade, também ocorreu em outro caso, julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
A responsabilização do Poder Público implica ônus à própria sociedade. Mesmo em casos em que o agente público pratica um ato ilegal, em raras oportunidades se vê a tentativa de sua responsabilização pessoal ou até mesmo a ação de regresso posterior, para o ressarcimento aos cofres públicos dos valores despendidos.
Quanto à atuação do Poder Público, no exercício do poder de polícia, parece mais correta a adoção da responsabilização subsidiária e subjetiva. Cabe ao Poder Público a fiscalização e atuação preventiva na preservação ambiental. A responsabilidade civil do Estado, no entanto, só pode ser invocada caso seja comprovada negligência no exercício da função fiscalizatória e, obviamente, não implica na transferência ou assunção de responsabilidade inerente ao causador do dano ambiental. Trata-se, portanto, de ‘responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, ‘seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta’. Percebe-se de todo o exposto, que houve, nos últimos anos, uma grande evolução do Direito Ambiental, que poderia ser muito bem utilizada na recuperação de áreas degradadas pela mineração. A sua efetividade, entretanto, é questionável. Cumpre investigar, pois, as razões desta inefetividade.
A ausência de execução dos PRADs encontra-se no contexto da ineficácia do Direito Ambiental, que, por seu turno, está relacionada com o despreparo do Poder Público. Há uma proporção inversa entre o crescimento do Direito Ambiental e a desorganização da Administração Pública Ambiental.
As investigações técnicas das externalidades negativas da atividade empreendedora acarretariam uma maior segurança jurídica na realização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como assegurado expressamente pela Constituição de 1988. Para alcançar tal desiderato, os órgãos ambientais precisam exercer efetivamente o poder de polícia, para exigir o cumprimento do PRAD.
Por sua vez, para que isso ocorra, ou seja, para que os órgãos ambientais tenham condições de exercer com eficácia o poder de polícia ambiental, é preciso evitar o seu sucateamento, transformando a temática ambiental em uma prioridade do Estado Brasileiro. A aplicação real do princípio do desenvolvimento ‘efetivamente’ sustentável passa pelo controle das atividades poluentes e pela revisão dos benefícios dela decorrentes. Caminha-se, a passos largos, para um final devastador já visto em outros momentos da história, como o relatado por Saint Hilaire, de que ‘já no fim do século 18 os mineiros lastimavam o esgotamento de suas minas e o de suas terras de cultivo.’ O esgotamento dos recursos minerais e a remanescente pobreza do solo e da população local parecem ser inerentes à atividade minerária, que negligencia as futuras gerações, em um modelo de exploração sem desenvolvimento econômico e social. Não há interesse político na mudança desse quadro.
Tal fato cria um ambiente de insegurança quanto à efetividade da recuperação das áreas mineradas, pois, após o período de percepção dos resultados econômicos da mineração e distribuição dos lucros, nem sempre o empreendedor tem receita disponível para fazer frente aos custos de revitalização das áreas mineradas. A situação agrava-se quando o responsável pelo empreendimento não mais possui sequer ativos, encontrando-se em estado de insolvência ou já com a sua falência decretada. O ônus de recuperação ambiental, nessas situações, acaba sendo arcado pela sociedade, uma vez que, para evitar riscos à população, muitas vezes medidas reparatórias são tomadas pelo Poder Público, com a consequente distribuição dos ônus da atividade que causou a degradação a toda a coletividade. O licenciamento, hoje em dia, acaba por ser na prática um salvo conduto. Se a estrutura débil da Administração Pública inviabiliza a própria fiscalização administrativa de empreendimentos ilegais, muito menos atenção se dará ao acompanhamento da operação de empreendimentos licenciados. A ausência do Poder Público impede, até mesmo, a constatação do abandono de empreendimentos. Em regra, muito tempo depois de encerrada a atividade empreendedora, os órgãos públicos se dão conta de que o responsável pela degradação causada ‘desapareceu’, deixando monstruosas dívidas e um rastro de exploração ambiental sem qualquer retorno à sociedade.
Trata-se da internalização dos lucros e externalização, à sociedade, dos ônus decorrentes das atividades minerárias. O histórico de degradação e coletivização dos custos pela degradação é muito bem retratado e exemplificado no livro Colapso, por Jared Diamond, ao constatar que as empresas de mineração, para evitar os custos de recuperação ambiental, acabam transferindo seu patrimônio para outras sociedades empresariais, em alguns casos controladas pelos mesmos indivíduo.
Os instrumentos assecuratórios da recuperação de áreas degradadas somente terão efetividade se houver parâmetros econômicos adequados. Para tanto, é necessário criar um ambiente de segurança, com previsibilidade para a sociedade civil, Poder Público e setor empreendedor. Uma das formas de atingir essa previsibilidade é promovendo uma adequada valoração do bem natural, impactado pela atividade minerária.
A utilização de distintos critérios de valoração econômica de forma indiscriminada, tanto no licenciamento, especialmente na compensação ambiental, quanto nas ações judiciais ambientais, além de colocar em risco a efetiva compensação de impactos ou reparação de danos ambientais, gera uma indesejada insegurança jurídica que pode também afetar a livre concorrência. Com efeito, empreendimentos semelhantes poderão ter tratamentos distintos quanto a esta valoração, tendo por consequência influências diretas em seu custo. Para evitar problemas como este, há necessidade de prévia definição em norma dos parâmetros para valoração econômica, diminuindo a discricionariedade do Poder Público.
Conforme já exposto, há uma grande dificuldade para a valoração econômica do bem natural, pela sua própria complexidade e por ser um bem fora do mercado. Além disso, o individualismo e o objetivo lucrativo, próprios da atividade empresarial, tornaram difícil o controle das externalidades ambientais negativas pelo próprio mercado, que não teria a capacidade de ajustamento dos recursos existentes a uma eficiência ótima. A solução estaria na intervenção do Estado, para corrigir as falhas, sendo indiretamente, portanto, responsável pela degradação.
No âmbito do licenciamento ambiental das atividades minerárias, os órgãos ambientais, com a finalidade de internalizar as externalidades ambientais negativas, devem, em consagração aos princípios do poluidor-pagador e do usuário pagador, fixar medidas compensatórias aos impactos ambientais negativos e aprovar os planos de recuperação de áreas degradadas pela mineração. As obrigações do empreendedor já estão, portanto, previstas no ordenamento jurídico. A norma, que se sugere seja editada, apenas fixaria parâmetros para o estabelecimento de valores econômicos no caso concreto.
Tal norma teria a função de estabelecer parâmetros objetivos que norteariam a fixação de valores econômicos para os bens naturais impactados pela atividade minerária. Estabelecidos valores para os bens naturais, estaria traçado um bom caminho para a valoração dos impactos e danos ao macrobem ambiental.
A previsão normativa de critérios para a valoração econômica dos bens naturais afetados pela atividade minerária, com atualização constante, como sugerido para a norma regulamentadora da avaliação de impacto ambiental, poderá se tornar um referencial importante para a atividade administrativa e jurisdicional.[12]
2.2. Decisões jurisprudenciais sobre responsabilidade em caso de dano ambiental
No Superior Tribunal de Justiça, alguns acórdãos são considerados “leading case” sobre a discussão relativa à responsabilidade integral em caso de dano ao meio ambiente. Assim, o julgado proferido em relação ao rompimento de barragem ocorrido no Estado de Minas Gerais, especificamente no Município de Miraí, ainda em janeiro de 2007, quando a empresa de Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda., durante o desenvolvimento de sua atividade empresarial, deixou vazar cerca de 02 (dois) bilhões de litros de resíduos de lama tóxica (bauxita), tendo atingido quilômetros de extensão e se espalhado por cidades dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, deixando inúmeras famílias desabrigadas e sem seus bens (móveis e imóveis). Ao fixar a responsabilidade em sede de recurso repetitivo, decidiu o STJ:
“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.”[13]
Destaque-se, na mesma linha de raciocínio, acórdão mencionado no Informativo 507 do STJ: “A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e pautada no risco integral, não se admitindo a aplicação de excludentes de responsabilidade. Conforme a previsão do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, recepcionado pelo art. 225, §§ 2º e 3º, da CF, a responsabilidade por dano ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). Pressupõe, ainda, o dano ou risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial, não cabendo invocar a aplicação de excludentes de responsabilidade. Precedente citado: REsp 1.114.398-PR, DJe 16/2/2012 (REPETITIVO). ”[14] Interpostos Embargos Declaratórios, os mesmos foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, reiterando o entendimento prevalecente no acórdão anterior:
“No caso, a premissa vencedora do acórdão é a de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, tendo por pressuposto a existência de atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de
indenizar, de modo que, aquele que explora a atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela, por isso descabe a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil e, portante (sic.), irrelevante a discussão acerca da ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou pela ocorrência de força maior.”[15]
Não foram outras as premissas teóricas que embasaram a decisão do STJ veiculada no seu Informativo 538:
“Relativamente ao acidente ocorrido no dia 5 de outubro de 2008, quando a indústria Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen), subsidiária da Petrobras, deixou vazar para as águas do rio Sergipe cerca de 43 mil litros de amônia, que resultou em dano ambiental provocando a morte de peixes, camarões, mariscos, crustáceos e moluscos e consequente quebra da cadeia alimentar do ecossistema fluvial local: a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. A doutrina menciona que, conforme o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, tendo por pressuposto a existência de atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de indenizar, de modo que, aquele que explora a atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela. Por isso descabe a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil. No mesmo sentido, há recurso repetitivo do STJ em situação análoga (REsp 1.114.398/PR, Segunda Seção, DJe 16/2/2012). Com efeito, está consolidando no âmbito do STJ a aplicação aos casos de dano ambiental da teoria do risco integral, vindo daí o caráter objetivo da responsabilidade. (AgRg no REsp 1.412.664-SP, Quarta Turma, DJe 11/3/2014, AgRg no AREsp 201.350-PR, Quarta Turma, DJe 8/10/2013).”[16]
Quanto à amplitude da recuperação necessária em face dos prejuízos ambientais, a integralidade tem sido imposta de modo a justificar a máxima reparação possível: “IV – Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013, entre outros. V – Os réus devem ser condenados, também, à reparação integral dos danos ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação da área degradada.”[17]
Confira-se, também, a propósito da reparação integral dever ser a mais completa possível: “VII. Consoante entendimento do STJ, ‘a restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)’ (STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.196.027/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2017; REsp 1.255.127/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2016.” [18]
Em decisão sobre a matéria de 2017, o STJ reiterou ser correta a jurisprudência a que “primeiro reconhece a imprescritibilidade da pretensão
reparatória de dano ao meio ambiente, e, segundo, atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à responsabilidade civil ambiental, considerando irrelevante, portanto, qualquer indagação acerca de caso fortuito ou força maior, assim como sobre a boa ou a má-fé do titular atual do bem imóvel ou móvel em que recaiu a degradação.”[19]
O TJMG, que já teve oportunidade de determinar as consequências dos danos ao meio ambiente em mais de uma oportunidade, vem explicitando que “Constatada a degradação ambiental de área de preservação permanente, a busca pela concretização da garantia constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir de sua conceituação como patrimônio comum, de natureza intergeracional e de irrefutável imprescindibilidade para a sustentabilidade da vida no planeta, exige seja recomposto o dano, nos moldes da legislação protetiva ora positivada”, ao que acresce a a natureza propter rem da responsabilidade ambiental, regida pela teoria do risco integral. [20]
O que a jurisprudência mineira vem proclamando é que a aferição da responsabilidade civil ambiental “deverá ter em conta a sua natureza solidária, propter rem, objetiva e fundada no risco integral, como informam os princípios do poluidor-pagador (ou princípio da responsabilidade), da precaução, da prevenção, e como resulta do art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981, e do art. 14, §1º, da lei retro citada, c/c art. 942 do Código Civil”[21]
Recentemente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reiterou que “A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal”, sendo que apenas “A reparação integral e espontânea do dano causado ao meio ambiente impede a conversão da obrigação em indenização pecuniária.” Segundo o voto do Desembargador Relator “Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerada, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova de culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação. (…) A configuração do dano moral coletivo, portanto, depende da demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade, da dor de uma coletividade ou grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.”[22]
Daí resulta uniformidade no entendimento exarado a propósito da responsabilidade integral por dano ao meio ambiente, malgrado os desafios da sua operacionalização na realidade administrativa e social.
Sobre a possibilidade de rompimento do nexo causal e, assim, afastamento da responsabilidade da empresa que explora a atividade de alto risco como a minerária e que, em razão dela, causou a degradação ambiental e perda de vidas humanas, é mister sublinhar o caráter extraordinário e improvável dessa hipótese em situações como a de Brumadinho. Estudiosos vem fazendo levantamento das orientações doutrinárias e das decisões dos Tribunais que afastam as tentativas privadas de se escusar em arcar com os ônus inerentes às atividades desenvolvidas:
“Não exclui o nexo causal e a responsabilização, por exemplo: a) a existência de licenciamento ambiental regular e a observância dos limites de emissão 11; b) a degradação preexistente ou a existência de área já antropizada 12 c) a alegação de riscos do desenvolvimento, resultantes do alto grau de industrialização e dos avanços tecnológicos 13; d) a colocação de placas no local avisando a presença de materiais orgânicos, no caso de danos decorrentes de contato físico com resíduos depositados 14; e) fato da natureza decorrente de deslizamento de terra após “chuvas torrenciais”, que provocou rompimento de “poliduto” e poluição das águas 15; f) a omissão do Estado na fiscalização 16.
11 CAPPELLI, Sílvia; MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Direito Ambiental. 7. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 206-207. 12 STJ, 2ª T., REsp 1457851/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2015, DJe 19/12/2016. 13 “Assim, se, no passado, eram utilizados produtos químicos com maior poder poluente, impõe-se o dever de reparação dos danos, sendo irrelevante a circunstância de que o controle da poluição fazia-se de acordo com a tecnologia disponível da época” (CAPPELLI, Sílvia; MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Direito Ambiental. 7. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 211-212).14 STJ, 3ª T., REsp 1373788/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/05/2014, DJe 20/05/2014.15. STJ, 4ª T., REsp 1346430/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/10/2012, DJe 21/11/2012.16. TRF4, 4ª T., AC 5014268-84.2013.404.7205, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, 04/08/2015. Aliás, Moreira bem refere sobre o cabimento do controle judicial de sustentabilidade em relação aos atos da administração pública. (MOREIRA, Rafael. Direito Administrativo e Sustentabilidade. Belo Horizonte: Editora Forum, 2017).”[23]
Frise-se que tais determinações fazem todo o sentido, uma vez que é o risco criado pela atividade perigosa como a exploração minerária que justifica impor à empresa o dever de indenizar os prejuízos causados ao meio ambiente e aos atingidos em situação como a do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Não é a “culpa” do degradador, não é a eventual “desídia” da Vale em tomar as precauções necessárias, nem mesmo o tantas vezes invocado “dolo eventual”. Na verdade, o simples fato de a barragem de rejeitos se romper causando mortes, destruição de rios, de parte da comunidade próxima e de áreas rurais circundantes, ainda que fosse em razão de força maior ou caso fortuito, implica responsabilidade integral da empresa que explorava e lucrava com o minério extraído no local. Não se ignora que a perda de vidas humanas não é algo objetiva e matematicamente indenizável, nem mesmo a morte de nascentes de rios, de animais e de outros bens naturais. Juridicamente, entretanto, fala-se em ressarcimento integral, nesses moldes:
“A noção de reparação aplicável ao dano ambiental traz consigo sempre a ideia de compensação. Isso no sentido de que a degradação do meio ambiente e dos bens ambientais não permite jamais, a rigor, o retorno da qualidade ambiental ao estado anterior ao dano, restando sempre alguma sequela do dano que não pode ser totalmente eliminada. Há, na realidade, sempre algo de irreversível no dano ambiental, o que não significa irreparabilidade sob o ponto de vista jurídico.
Nesse contexto, a reparação do dano ambiental deve invariavelmente conduzir o meio ambiente a uma situação equivalente — na medida do que for praticamente possível — àquela de que seria beneficiário se o dano não tivesse sido causado, compensando-se, ainda, as degradações ambientais que se mostrarem irreversíveis. Daí a incidência do princípio da reparação integral do dano.
A reparação integral do dano ao meio ambiente abrange não apenas o dano causado ao bem ou recurso ambiental imediatamente atingido, como também toda a extensão dos danos produzidos em consequência do fato danoso à qualidade ambiental, incluindo: a) os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um determinado bem ambiental que estiverem no mesmo encadeamento causal (como, por exemplo, a destruição de espécimes, habitats e ecossistemas inter-relacionados com o meio imediatamente afetado; a contribuição da degradação causada ao aquecimento global); b) as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio degradado; c) os danos ambientais futuros que se apresentarem como certos; d) os danos irreversíveis causados à qualidade ambiental, que de alguma forma devem ser compensados; e) os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem ambiental.”[24]
Não há dúvida que definir a reparação integral é um desafio a ser vencido, com aferição em cada situação específica. Para se alcançar a plena reparabilidade, especialmente em face dos universos jurídicos individuais dos atingidos pela tragédia, cumpre enfrentar a procedimentalização necessária para identificação dos titulares do direito à indenização, o modo de se proceder ao ressarcimento, com o levantamento dos dados que especificarão os prejuízos sofridos e o seu valor.
3. A procedimentalização essencial ao dever de indenizar. Os diversos caminhos possíveis: ações judiciais e meios extra-judiciais
Afirma-se atualmente que é, no mínimo, complexa a realidade enfrentada por quem sofre ofensa a um direito seu. A demanda por solução de controvérsias pelo Judiciário ampliou-se ao longo do período pós-redemocratização (depois da Constituição de 1988), assumindo proporções colossais nos últimos anos. Paralelamente a esse excesso de “judicialização”, muitos ainda não têm efetivo acesso aos serviços da Justiça, que está literalmente sufocada por um sem número de processos. Daí a necessidade de se reinventar o modo de solucionar os conflitos de interesses, mediante a contribuição de cada um dos protagonistas dos diversos processos. Uma das soluções é, sem dúvida alguma, adotar o caminho inverso da “desjudicialização”.
No contexto do excesso de ações judiciais que culmina em abarrotar a estrutura encarregada da função essencial prevista no artigo 5º, XXXV da CR, buscam-se soluções alternativas à prestação da tutela jurisdicional. Vem sendo adotados meios que variam da autotutela administrativa colegiada (Conselhos, Câmaras Técnicas, Núcleos que na Administração Pública possam buscar soluções para os problemas que envolvem o Poder Público, fora da prestação da tutela jurisdicional), arbitragem, mediação, conciliação, além de mecanismos como protesto em cartório, termos de ajustamento de conduta, acordos de leniência e tantos outros.
Cada litígio que deixa de ser levado ao Poder Judiciário, por obter solução adequada na via administrativa e/ou por acordo entre as partes, equivale a uma outra demanda cujo julgamento poderá ocorrer de forma mais célere, justo e eficiente. Daí nos depararmos com uma nova situação:
“Se o Judiciário já teve primazia absoluta na solução dos conflitos de interesses públicos e privados, é preciso que compreendamos a importância dos demais mecanismos disponíveis de autocomposição, autotutela e inclusive a arbitragem como meio de heterocomposição.
Em todos eles, a importância do advogado, com um perfil diverso da formação tradicional do bacharelado em Direito (claramente tendente à Judicialização) é fundamental. Que os profissionais da advocacia privada e pública se desdobrem para investir em formação especializada, indispensável aos novos tempos de litígios de massa, a desafiar soluções específicas e adequadas.”[25]
Em uma situação grave e dramática como a enfrentada por milhares de pessoas em Brumadinho, pensar em viabilizar a reparação integral pela Vale através de milhares de ações judiciais é ter a certeza de que boa parte dos prejudicados não será indenizada. Afinal, a própria demora na prestação da tutela jurisdicional transformará o desejo de ressarcimento em claro injustiça. A isso se acresce o perigo da pulverização das ações, com pedidos diversos, argumentações distintas e redução do poder de pressão perante uma empresa de grande porte, com um setor jurídico devidamente estruturado e com conhecimento técnico a permitir o manuseio de recursos com potencial de significativo retardamento da resposta final do Judiciário.
Ao mesmo tempo, a experiência com os acordos firmados extrajudicialmente em situações semelhantes, com a estrutura concebida em busca de solução consensual, evidencia que nem sempre optar apenas por meios extrajudiciais é a solução perfeita e isenta de riscos. Também nessa seara a manipulação de diferentes comportamentos, agora na seara da consensualização, podem atrasar e muito, de forma inesperada e dificilmente previsível no início das negociações, a efetividade indenizatória.
É certo que, abstrata e teoricamente, não é possível limitar a plena reparabilidade do dano ao meio ambiente e aos atingidos por uma catástrofe ambiental. Contudo, o procedimento eleito para se buscar o ressarcimento pode, na prática, reduzir a indenização a níveis que a tornem ilegítima e inconstitucional. Um dos principais desafios, senão o principal que atualmente se enfrenta, é definir qual o caminho adequado para que se alcance, na prática, a reparação integral em sua melhor amplitude possível.
Considerando tais aspectos e atentando para a relevância da proteção dada pelo ordenamento aos vitimados de desastres ambientais, é certo que não é imprescindível que se busque um sem número de decisões judiciais condenatórias; o reconhecimento da responsabilidade integral pode (e deve) se dar pela empresa na esfera extrajudicial, sendo possível aos órgãos públicos competentes operacionalizar o modo de se concretizar o conjunto de indenizações e de medidas reparatórias. Não há dúvida, entretanto, que como forma de assegurar que esses acordos possam ser firmados, é cabível e até mesmo necessária tutela jurisdicional como a requerida em sede cautelar, permissiva de medidas emergenciais e outras que assegurem a operacionalidade de sentenças, acórdãos ou de acordos futuros. Assim, p. ex., se há montante depositado nas contas bancárias da empresa bloqueado liminarmente e disponível para as providências indenizatórias futuras, tem-se maior chance de efetividade dos eventuais acordos ou viabilidade executória de sentenças e acórdãos.
É claro que não se concebe, em plena segunda década do século XXI, que o Judiciário seja o único espaço para definição das soluções necessárias numa realidade tão complexa como a indenização ambiental pela tragédia de Brumadinho. É preciso contar com o compromisso da própria Vale em reconhecer a obrigação ressarcitória decorrente do ordenamento, bem como com a atuação dos diversos órgãos que podem viabilizar extrajudicialmente acordos a operacionalizar a reparação necessária. Isso não significa, contudo, que a consensualização seja a resposta única para fixar como alcançar a reparabilidade integral. Não é prudente apostar somente na iniciativa responsável da própria empresa, nem mesmo em futuros e incertos acordos que fixem como indenizar todos os prejuízos. Cabe aos envolvidos, com competências e interesses jurídicos presentes na espécie, analisar quais providências judiciais são necessárias para instrumentalizar a reparação integral futura, da forma mais célere e segura, à luz da razoabilidade. Isso definido, é preciso que sejam adotados procedimentos que, o mais rapidamente possível, reduzam a amplitude dos danos, fazendo retroceder a degradação e/ou compensar os prejuízos insuperáveis. Nessa fase, se possível operacionalizar o dever indenizatório com acordos entre os envolvidos, que se reduza o consenso a escrito, após regular trâmite que assegure a lisura e a boa-fé objetiva das partes.
Destaque-se que provavelmente será preciso adotar uma sucessão de atos concatenados os quais objetivem não só a obrigação de ressarcir da empresa, mas a titularidade do direito à indenização em favor dos atingidos, com a construção de um sistema que viabilize rapidez na solução do conflito, bem como segurança jurídica, certeza quando à veracidade das informações e moralidade em todo o procedimento.
A procedimentalização viabiliza o surgimento de elementos aptos a ensejar a correção dos comportamentos públicos e privados antes de realizados, com produção de resultados na realidade conflituosa. Se se oportuniza o surgimento de dados que podem delinear contornos da ação necessária à indenização, antes que esta se realize, evitam-se comportamentos ilícitos, erros na definição e mensuração indenizatória e se promove maior efetividade da reparação. Na verdade, o procedimento dialético, com participação legitimada às partes interessadas, concretiza o mínimo de atividade democrática que se requer na sociedade contemporânea. É preciso ouvir quem teve a sua vida destruída por uma tragédia, é indispensável apurar objetivamente os danos materiais e morais que tenha sofrido, é necessário analisar as evidências da titularidade do direito, mensurar o seu valor e fixar os meios de operacionalizar que seja indenizado.
Tais ponderações afiguram-se pertinentes na espécie, uma vez que o Estado de Minas Gerais, por meio dos seus órgãos, vem enfrentando, há anos, significativas dificuldades em operacionalizar, na seara ambiental, o poder de polícia administrativa e o dever ressarcitório em face de empresas responsáveis por tragédias como as decorrentes do rompimento de barragens. A efetividade dos instrumentos eleitos e o exercício sério e comprometido das competências, principalmente na esfera pública, devem evoluir na proporção da relevância atribuída pela Constituição e pela legislação à proteção do meio ambiente. Trata-se de uma busca constante a do Estado, atualmente, analisar cada instituto com a seriedade necessária a superar uma cultura condescendente com o comprometimento criminoso do ambiente sem o qual as gerações posteriores sequer conseguirão sobreviver. À obviedade, não se tolera a adoção de uma cultura persecutória que inobserve as garantias constitucionais e os limites legais de atuação do Poder Público. Também não se confunde celeridade com pressa irresponsável na realização de medidas indenizatórias. A interpretação que ora se vislumbra aos diversos aspectos da matéria em comento tem por fito exatamente alcançar o equilíbrio entre a efetividade do dever de ressarcir os prejuízos ambientais, a preservação do interesse público primário e o respeito à razoável duração do processo, ao direito à participação dos envolvidos, com observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Considerando o dever de se buscar os pressupostos dos direitos em questão, adverte-se que a atividade dos envolvidos e dos órgãos com competência para atuar não pode ensejar aventuras jurídicas sem lastro, com possível agravamento do sacrifício de quem já sofre com a catástrofe ambiental ocorrida. Não pode se omitir em coletar elementos que demonstrem as condições indispensáveis a que a empresa suporte os ônus do ressarcimento integral.
A aferição, de modo objetivo, se há elementos evidenciadores do direito à indenização exigirá, por conseguinte, um mínimo de procedimentalização que, sem dúvida, é um dos traços mais marcantes da evolução do Direito Público nas últimas décadas, consoante lição de José Manuel Sérvulo Correia ao prefaciar o livro “Participação administrativa procedimental: natureza jurídica, garantias, riscos e disciplina adequada” da autora e Procuradora do Estado Luísa Cristina Pinto e Netto:
“O procedimento administrativo afirmou-se como um dos institutos centrais do Direito Administrativo. Em Direitos como o alemão, o italiano ou o português, ele ganhou mesmo uma identidade semântica, uma vez que, tendo ficado a expressão processo administrativo reservada para designar a estruturação normativa seqüenciada do conhecimento e decisão pelos tribunais dos litígios jurídico-administrativos, a locução procedimento administrativo cobre a estrutura normativamente seqüenciada das condutas da administração e dos particulares destinadas à preparação, tomada e execução das decisões administrativas graças à recolha e ao tratamento da informação pertinente. Inicialmente pensado e legislado no tocante à preparação e emissão dos actos administrativo, o procedimento administrativo viu depois o seu raio de acção alargado à preparação e celebração dos contratos administrativos ou, mesmo, dos contratos de direito privado da administração, e, até, à preparação e acompanhamento de operações materiais da administração carecidas de enquadramento jurídico.”[26]
Com habitual lucidez, Luísa Cristina Pinto e Netto observa que “A procedimentalização da atividade administrativa tem se feito acompanhar e tem se completado pela afirmação de um princípio de justiça procedimental, o princípio do devido procedimento eqüitativo, que permite dar sentido a esta progressiva conquista do terreno administrativo pelo procedimento”, donde conclui que “a procedimentalização da atividade administrativa firma-se como princípio do Direito Administrativo contemporâneo, ladeada pelo princípio do devido procedimento eqüitativo.”[27]
Clássicas já eram as lições dos professores Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari ao aduzir que “o processo administrativo aberto, visível, participativo, é instrumento seguro de prevenção à arbitrariedade. Dele não se pode abrir mão, minimamente que seja. Se bem é certo que a função administrativa não se perfaz somente pela via do processo administrativo, inequívoco que essa é a via majoritária. (…) Hoje, muito mais que um iter para a produção dos atos administrativos, o processo administrativo é um instrumento de garantia dos administrados em face de outros administrados e, sobretudo, da própria Administração.”[28]
Atentando para a necessidade de procedimentalização do juízo sobre a existência, ou não, do direito à indenização em cada situação específica, em razão da responsabilidade integral por danos ambientais imposta à empresa, explicita-se que o sequenciamento formal de atos implica segurança jurídica para todos os envolvidos. Viabiliza-se que, além da manifestação de vontade dos atingidos, dos órgãos e entidades administrativas, tenha-se previamente também a declaração de vontade da própria empresa, a coleta de elementos que formem a convicção técnica sobre os danos presentes, o que, além de concretizar a co-participação dos atingidos e o aspecto dialógico das diversas competências, reduz a possibilidade de equívocos na decisão final que imponha a reparação. A democraticidade de uma relação mais ampla entre todas as partes maximiza a correção e a eficiência da atuação necessária para ensejar o integral ressarcimento.
Não se ignora a importância da participação de órgãos de controle quando da formatação desse modelo procedimental que, unindo providências judiciais e acordos extrajudiciais, busca ao final obter a resposta indenizatória mais célere, correta e segura possível. Para tanto, é imprescindível que os órgãos administrativos e de controle incorporem o dever de articulação interna e externamente, principalmente a coordenação interinstitucional que culmine em resultados positivos ao interesse da sociedade, em especial das vítimas da catástrofe. Brigas de egos, desejos utópicos de concretização fantasiosa de uma realidade indenizatória inalcançável, determinações não convergentes de instrumentos de fiscalização e de atividade administrativa, incompetência na fixação de valores ressarcitórios adequados, tudo isso só compromete a consensualização como um espaço possível de efetividade reparatória, mormente se aliada a providências judiciais pertinentes. A preocupação com atuações contraditórias e pulverizadas, sem qualquer estratégia única, deve conduzir à conclusão de que esses vícios somente enfraquecem os órgãos de controle e os administrativos, tornando-os inimigos da proteção do interesse público e das vítimas da tragédia. Modernizar as esferas do Estado implica trabalho de articulação e coordenação que certamente refletirá na qualidade do resultado buscado. Para tanto, será preciso superar as resistências internas, implantar uma comunicação ágil e efetiva, mudar as culturas isolacionistas de trabalho, viabilizar a monitorização de processos cujos resultados tenham repercussão em outras instâncias e apostar em manifestações técnicas de especialistas que estejam convencidos da importância da atividade interdisciplinar dos diversos órgãos.
É indispensável que não ocorra a captura indevida dos órgãos por interesses divorciados das necessidades sociais. Que entre o controle formal e excessivo, mero exercício “autista” de poder de instituições diversas, e a omissão criminosa na fiscalização dos comportamentos e na busca da melhor efetividade indenizatória, que deixa cidadãos reféns e desprotegidos diante de uma tragédia ambiental de grande monta, seja possível encontrar o equilíbrio em uma das atividades mais relevantes do Estado contemporaneamente: usar mecanismos judiciais e de consensualização para produzir os resultados que decorrem do ordenamento vigente. Tem-se como responsabilidade de cada envolvido nessa seara a resistência aos extremos “ações judiciais não prestam para nada” e “celebrar acordos é perigoso e ineficaz”, “o controle é sempre diabólico” e “o controle é sempre positivo”, “nada que seja fixado na seara extrajudicial é eficiente, vamos ajuizar uma ação pedindo outros milhões de reais” e “qualquer montante obtido mediante consenso é suficiente, mesmo que aparentemente ínfimo e demore a ser pago”. No lugar de tais radicalismos, cabe-nos buscar, tecnicamente, mecanismos que viabilizem as providências necessárias à reparabilidade integral com o atendimento das necessidades dos atingidos, bem como compensação da degradação ao meio ambiente, dentro de perspectivas realistas e jurídicas. Será preciso gestão estratégica no planejamento das medidas a serem adotadas, com a modernização da atividade exercida pela advocacia pública, atuação leal da empresa responsável integralmente pelos danos e atividade eficiente dos órgãos de controle. Afasta-se a ilusão de que atuações pulverizadas não estratégicas protegem o interesse público, sendo as experiências semelhantes suficientes para demonstrar a importância da cautela ao eleger os procedimentos que conduzam ao ressarcimento previsto na Constituição e na legislação.
É com fundamento em tais argumentos que se entende essencial conferir transparência e objetividade à atuação subsequente à tragédia de Brumadinho, na apuração do direito dos atingidos serem indenizados. Para tanto, chama-se à responsabilidade os profissionais do Direito que operacionalizarão as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à reparação integral. O desafio é que em procedimentos que atendam a juridicidade sejam colacionados elementos suficientes para celebração de acordo e/ou instrumentalização de ações judiciais que concretizem adequadamente as normas do ordenamento de regência.
Ao trabalho que a dor ainda é imensa entre as montanhas mineiras.
[1] OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 299; 301-302.
[2] OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador, op. cit., p.339; 341-343.
[3] CAMPOS, Humberto Alves. Responsabilidade civil do Estado em face de terceiros não-usuários de serviços públicos: teoria e jurisprudência. A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, ano 09, n. 36, p. 156, abr/junho 2009.
[4] MACÊDO, Marcus Paulo Queiroz. A responsabilidade civil em face de danos decorrentes do deferimento de tutelas de urgência em ações coletivas. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Trbunais, ano 34, n. 171, maio de 2009, p. 218
[5] WILLEMAN, Flávio de Araújo. Os tribunais de contas e a responsabilidade patrimonial do Estado. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, v. 63, 2008, p. 158
[6] SIMÃO Valdir Moysés; VIANA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na Lei Anticorrupção. São Paulo: Trevisan Editora, 2017, p. 49-50
[7] CAMPOS, Humberto Alves. Responsabilidade civil do Estado em face de terceiros não-usuários de serviços públicos: teoria e jurisprudência. A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional, op., cit., p. 164
[8] MS nº 22.164-SP, rel. Min. Celso de Mello, Pleno do STF, DJ de 17.11.1995.
[9] SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 299-300.
[10] Confira-se o item 2.3., “infra”.
[11] SIQUEIRA, Lyssandro Norton. Qual o valor do meio ambiente? Rio de Janeiro: Lumen, 2017, p. 123-244.
[12] Todo o item 2.1. representa a expressão da doutrina presente na seguinte obra: SIQUEIRA, Lyssandro Norton. Qual o valor do meio ambiente? Rio de Janeiro: Lumen, 2017, p. 123-244.
[13] REsp nº 1.374.284-MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção do STJ, DJe de 05.09.2014.
[14] REsp nº 1.346.430-PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ, Informativo 507 do STJ.
[15] Embargos Declaratórios no REsp nº 1.346.430-PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ, DJe de 14.02.3013.
[16] REsp nº 1.354.536-SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção do STJ, Informativo 538 do STJ.
[17] Agravo em REsp nº 1.093.640-SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma do STJ, DJe de 21.05.2018.
[18] Agravo Interno no REsp nº 1.523.643-SC, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma do STJ, DJe de 23.10.2017.
[19] REsp nº 1.644.195-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 08.05.2017.
[20] Apelação Cível nº 1.0400.13.003897-1/001, rel. Desembargador Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 30.01.2018.
[21] Apelação Cível nº 1.0400.06.020456-9/001, rel. Desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, 5ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 06.12.2018.
[22]Apelação Cível nº 1.0040.13.009048-9/001, rel. Desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 13.12.2018.
[23] WEDY, Gabriel. Breves considerações sobre a responsabilidade civil ambiental. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-set-01/ambiente-juridico-breves-consideracoes-responsabilidade-civil-ambiental. Acesso em 02.02.2019.
[24] MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil integral e reparação integral do dano. Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-out-29/ambiente-juridico-responsabilidade-civil-ambiental-reparacao-integral-dano. Acesso em 02.02.2019.
[25] Post divulgado em 11.08.2018 na Página da “Professora Raquel Carvalho” no facebook.
[26] CORREIA, José Manuel Sérvulo. Prefácio. In PINTO E NETTO, Luísa Cristina. Participação administrativa procedimental: natureza jurídica, garantias, riscos e disciplina adequada. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
[27] PINTO E NETTO, Luísa Cristina. Participação administrativa procedimental: natureza jurídica, garantias, riscos e disciplina adequada, op. cit., p. 51.
[28] FERRAZ, Sérgio & DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 24-25.